Fundamentos teóricos e metodológicos do processo de alfabetização
Aula 1
Alfabetização: Perspectiva Histórica
Alfabetização: Perspectiva Histórica
Olá, estudante! Nesta videoaula você irá conhecer o sistema de escrita, cultivando a compreensão do papel da linguagem na sociedade, explorando estratégias inovadoras para o ensino da leitura e escrita, e considerando as diversas formas de alfabetização presentes na atualidade.
Esse conhecimento é relevante para sua prática, pois desenvolver a capacidade de ler e escrever implica explorar o mundo e as diversas maneiras de interagir com ele.
Aperte o cinto! Vamos decolar na busca de novos conhecimentos!
Ponto de Partida
Você fará um mergulho fascinante no mundo da leitura e escrita, explorando não apenas habilidades básicas, mas compreendendo o letramento como uma prática social. Nesta aula seus estudos estão destinados às discussões de políticas públicas considerando as perspectivas históricas da alfabetização no Brasil. Você conhecerá não apenas as etapas da escrita em sua evolução social como também iniciará investigações dos métodos de alfabetização no Brasil.
Nosso ponto de partida será a Gabriela. Recém-formada em Pedagogia, está radiante por ser aprovada para lecionar em uma escola pública. Sua expectativa é grande, pois terá uma turma de alfabetização, um sonho que remete à sua própria história familiar, em que seus pais não tiveram acesso à educação. No entanto, ao descobrir que lecionará para uma turma de terceiro ano com defasagem de idade/ano escolar e muitos alunos sem habilidades de leitura e escrita, Joana se vê diante de um desafio inesperado. Agora, ela busca embasamentos teóricos que fundamentem sua prática para que obtenha sucesso nesse desafio.
Para isso, você deve compreender como a evolução da escrita e os métodos de alfabetização podem auxiliar a Gabriela na organização de situações educativas capazes de intervir e otimizar tais processos.
Vamos Começar!
Alfabetização: perspectiva histórica
A jornada da alfabetização ao longo da história é uma narrativa instigante que destaca a evolução do conhecimento humano. Desde as civilizações antigas, que desenvolveram formas iniciais de escrita, até os sistemas alfabéticos modernos, a busca pela maestria na leitura e a escrita tem sido uma força motriz nas sociedades. A história da alfabetização reflete não apenas o progresso das linguagens escritas, mas também evidencia transformações sociais, culturais e tecnológicas.
Panorama histórico da escrita
Por séculos, as experiências e costumes passados ao longo da história das civilizações foram comunicados predominantemente por meio da tradição oral. Contudo, a chegada da escrita desencadeou uma revolução nas sociedades, abrindo caminho para uma organização inovadora.
Alguns estudiosos sustentam que a origem da escrita foi há, aproximadamente, 4000 a.C., na Mesopotâmia. No entanto, os registros do uso da escrita são encontrados em grandes civilizações em épocas semelhantes, abrangendo Egito, China e América pré-colombiana.
Uma das primeiras considerações que devemos fazer é que a escrita é muito mais do que um instrumento: ela não apenas expressa o pensamento, ela o organiza. A escrita permanece e atravessa o tempo, ela comunica e tem seu desenvolvimento atrelado a inúmeros avanços da história das civilizações. Com seu surgimento, as civilizações passaram a escrever as leis, e a tradição e a cultura oral perderam centralidade.
O registro mais primitivo, o pictográfico, realizado com argila no interior das cavernas, revela uma necessidade de comunicação que também é mística, pois o desenho da caça tinha, entre outros sentidos, o objetivo de trazer boa sorte. Os escritos egípcios, os hieróglifos, eram um conhecimento detido apenas pelos sacerdotes e pela nobreza. Eram concebidos como sagrados e um presente dos deuses, não apenas pela civilização egípcia, mas por outros povos da antiguidade.
É importante lembrar que, antes da escrita, a humanidade utilizou diversos meios para comunicação, como os sinais de tambor, a linguagem dos gestos, o envio de flechas e objetos, o envio de mensageiros, entre outros.
As etapas da escrita de Higounet
A escrita foi uma revolução dentro das sociedades, pois possibilitou uma nova forma de organização. Sua sistematização e conceituação ocorreu a partir de Higounet (2003), em três etapas de desenvolvimento da escrita. Iniciaremos pelas primitivas até chegar em nosso sistema alfabético: escritas sintéticas, analíticas e fonéticas.
As escritas sintéticas referem-se às rupestres, são as mais elementares. São aquelas nas quais um grupo de sinais é utilizado para comunicar ideias ou frases inteiras. Conforme explica o autor:
Como o número desses sinais é ilimitado, enquanto das ideias e das frases é infinito, a leitura dessas escrituras depende a maior parte do tempo de rébus. Chama-se rébus a tentativa de representação dos sons da língua, sobretudo sílabas por meio de figuras cujos nomes tenham esses sons e cuja combinação possa representar uma palavra. Por exemplo, o desenho de um sol e o desenho de um dado para representar a palavra soldado (Higounet, 2003, p. 13).
São exemplos de escritas sintéticas as pinturas rupestres de sítios arqueológicos da pré-história. O registro primitivo revela a necessidade de comunicação, que também é mística, pois o desenho da caça tinha, entre outros sentidos, o objetivo de trazer boa sorte.

As escritas analíticas têm como unidade de organização a palavra e representam uma grande evolução para o sistema de escrita. Ao criar a escrita das palavras, um estágio bem mais complexo surge, pois o processo de isolar as palavras em uma frase é longo e demorado. Um exemplo de escrita analítica é a egípcia.
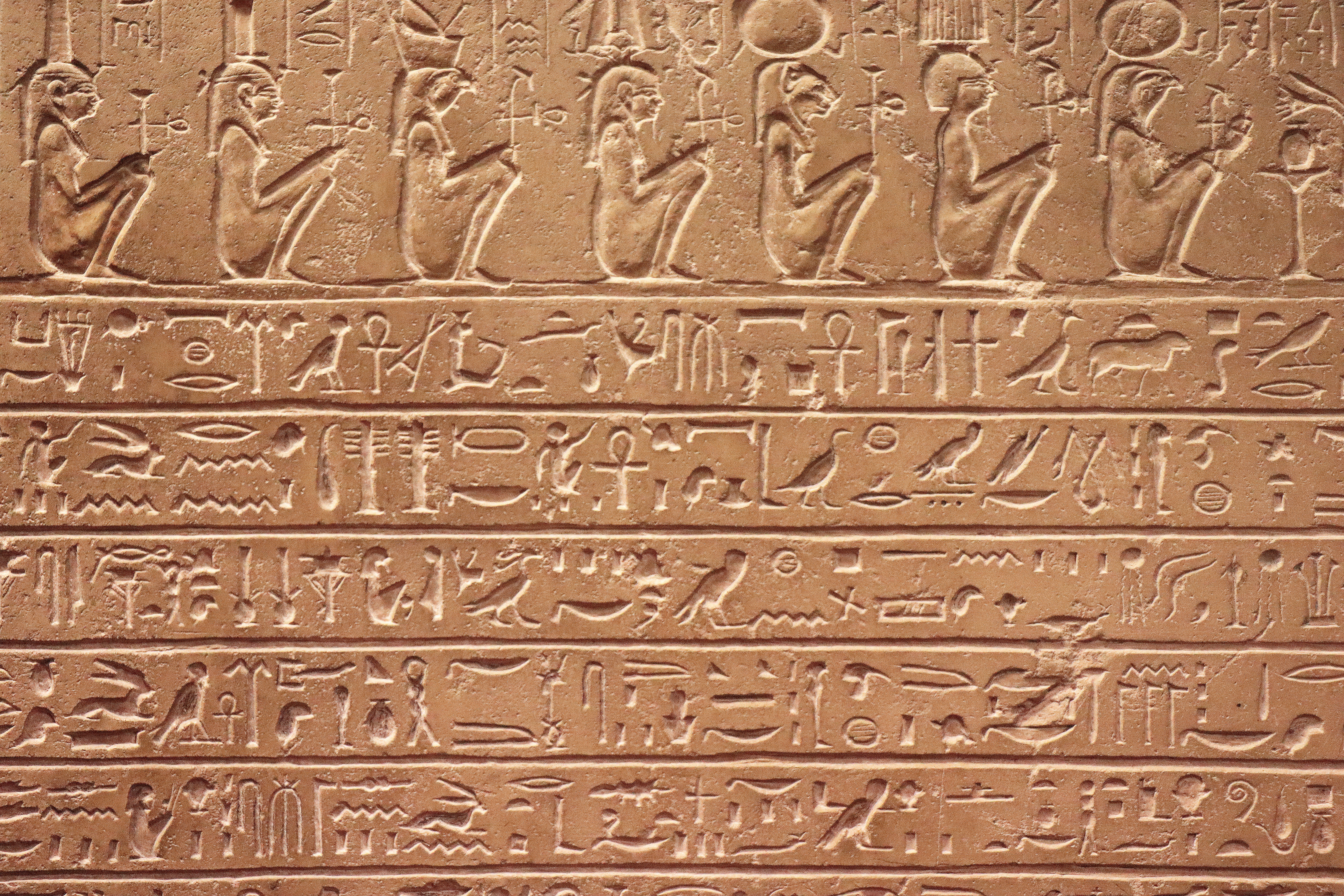
E, finalmente, as escritas fonéticas. Ela exigiu uma grande evolução no estoque de sinais e, também, uma grande memória visual para a memorização e decifração desses sinais. Esse tipo de escrita pode ser subdividido em dois subtipos: silábica ou alfabética. Conforme resume Higounet (2003, p.14):
Há poucos exemplos de escritas puramente silábicas, mas o silabismo existia entre as populações sírias e mediterrâneas desde o segundo milênio antes de nossa era. A distinção entre consoantes e vogais dentro das sílabas e a notação de muitas tentativas, ao alfabeto consonantal fenício de meados do segundo milênio, o ancestral de todos os alfabetos verdadeiros, especialmente o da nosso, por meio do alfabeto grego (Higounet, 2003, p. 14).
Além da evolução da escrita, os suportes textuais também foram inúmeros e se adaptaram continuamente ao processo tecnológico da respectiva época. Existem diferentes suportes subjetivos de texto utilizados no decorrer da história: argila, pedra, metais, madeira, papiro e pergaminho.
Sabe-se que o interesse pela instrução formal na leitura e escrita surge concomitantemente à instauração da república. Contudo, é essencial destacar que as estruturas organizacionais desse sistema educacional eram, na época, rudimentares e limitadas, atendendo apenas a uma pequena fração da população.
Mortatti (2010, p. 330) afirma que a partir da primeira década da velha república passa a existir uma organização sistemática, metódica e intencional, considerando a leitura e a escrita como capacidades imprescindíveis para o exercício da cidadania.
Desde então, diversas ações inovadoras no âmbito nacional fizeram com que a educação fosse efetivamente reconhecida como um direito constitucional. Vários passos foram dados para garantir o direito ao aprendizado da leitura e escrita. Uma maneira de avaliar esses progressos é, além do aspecto conceitual e das pesquisas em alfabetização e letramentos, observar a implementação de políticas públicas e específicas nesse domínio.
As políticas públicas são organizadas pelo Estado e expressas em forma de leis, planejamentos e financiamentos. Um exemplo notável no campo da educação é o Plano Nacional de Educação (PNE), delineado por um conjunto de metas a serem atingidas ao longo de um período de 10 anos. Esse plano engloba 20 metas, sendo duas especificamente vinculadas aos processos de alfabetização:
- Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental.
- Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015; erradicar o analfabetismo absoluto; e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Em 2021, a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais estava em 95%, sendo de 87% nas áreas rurais e 96,3% na urbana. (MEC, 2014).
Com foco na alfabetização adequada à idade e na redução das taxas de analfabetismo e analfabetismo funcional, foram implementados programas como o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Esse programa visa alfabetizar crianças até os oito anos. Além disso, destaca-se o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), que concentra seus esforços na alfabetização de jovens, adultos e idosos.
Para acompanhar se as metas foram atingidas, são organizados, periodicamente, exames nacionais para avaliação das metas propostas no PNE, como o da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). Essa avaliação é aplicada a todos os estudantes do terceiro ano do ensino fundamental nas instituições públicas, para gerar indicadores relacionados à alfabetização e ao letramento em língua portuguesa, bem como à alfabetização em matemática.
Um aspecto crucial a ser ponderado é o investimento destinado à capacitação dos professores e à uniformização da base salarial em todo o Brasil, tendo em vista as marcantes disparidades regionais. Colocar esses temas no centro das discussões de políticas públicas é de suma importância para a contribuição da qualidade no processo educacional.
Siga em Frente...
Métodos de alfabetização no brasil
Considerando a relevância do processo educativo, vamos retomar a temática relacionada aos processos de alfabetização, enfatizando a importância dos métodos no processo de aquisição da leitura e da escrita. Nosso embasamento está nas pesquisas de Mortatti, que definem a alfabetização como o mais complexo e evidente problema no que se refere à qualidade do processo educativo. Para ela, o aprender a ler e escrever é uma evidência de sucesso ou fracasso escolar. Como assim, professora? Considerando o papel primordial que os métodos de alfabetização assumiram, paira a ideia de que a escolha do método é de fundamental importância para o percurso da alfabetização.
A abordagem dos métodos é essencial, pois evidencia a habilidade do sistema educacional em alfabetizar seus estudantes. Ao longo do tempo, foram dedicados muitos esforços à discussão dessa temática, considerando que o domínio da leitura e da escrita é também fundamental para a participação na vida cidadã e no contexto profissional. Segundo Mortatti (2006, p. 3-4):
[...] observam-se repetidos esforços de mudança, a partir da necessidade de superação daquilo que, em cada momento histórico, considerava-se tradicional nesse ensino e fator responsável pelo seu fracasso. Por quase um século, esses esforços se concentraram, sistemática e, oficialmente, na questão dos métodos de ensino da leitura e escrita, e muitas foram as disputas entre os que se consideravam portadores de um novo e revolucionário método de alfabetização e aqueles que continuavam a defender os métodos considerados antigos e tradicionais. A partir das duas últimas décadas, a questão dos métodos passou a ser considerada tradicional e os antigos e persistentes problemas da alfabetização vêm sendo pensados e praticados predominantemente, no âmbito das políticas públicas, a partir de outros pontos de vista, em especial a compreensão do processo de aprendizagem da criança alfabetizanda, de acordo com a psicogênese da língua escrita (Mortatti, 2006, p. 3-4).
A autora define quatro momentos históricos que marcam questões relativas aos métodos de ensino: a metodização do ensino da leitura, a institucionalização do método analítico, a alfabetização sob medida, a alfabetização, e, por último, o construtivismo e a desmetodização.
O início desse período foi marcado por controvérsias, uma vez que até meados do século XIX não havia materiais de alfabetização produzidos no Brasil, sendo os livros importados da Europa. Nesse contexto, dois métodos disputavam espaço: o método da palavração, que começava com a leitura da palavra para, posteriormente, analisar foneticamente as letras; e os métodos sintéticos (soletração, fônico e silabação).
Na segunda etapa, o ensino da leitura e escrita adotou uma abordagem que parte do todo para as partes, embora a definição do todo variasse, podendo ser uma historieta, uma palavra ou sentença, como indicado por Mortatti (2006). Esse período, que perdurou até 1920, distribuiu uma tradição na qual a criança aprendia com base em suas habilidades motoras, visuais e auditivas. Um aspecto notável introduzido nesse contexto foi o ensino da escrita, tratado como uma questão de caligrafia, enfatizando práticas como cópia e leitura.
A partir de 1920, na terceira fase, observou-se a coexistência de métodos sintéticos e analíticos, juntamente com a presença de métodos mistos. Durante esse período, o método global também se fortaleceu entre os professores. Um acontecimento significativo foi a introdução de testes de prontidão, destacando a maturidade do estudante como um fator essencial para o desenvolvimento da leitura e escrita. Nesse contexto, foi difundido o período preparatório, constituído pelo treinamento psicomotor.
No quarto momento têm-se as ideias construtivistas. A partir de 1980, o sujeito cognoscente ganha centralidade, ou seja, como a criança aprende torna-se o foco. Conforme analisa Mortatti (2000), o construtivismo não se configura como um método inédito, mas sim como uma “revolução conceitual, que requer, entre outros elementos, o afastamento de teorias e práticas tradicionais, a desmetodização do processo de alfabetização e a contestação da necessidade das cartelas”.
Notamos a relevância de repensar as diferentes construções do processo de aquisição da leitura e da escrita para analisar com um olhar mais apurado as concepções das teorias construtivistas que chegaram na década de 80 e apresentam grande influência nas práticas atuais.
Vamos Exercitar?
Vamos pensar nas ações da professora Gabriela para solucionar seu problema. Um dos primeiros caminhos foi retomar uma base teórica que pudesse trazer subsídios para a criação e para a estimulação dos estudantes. A história da escrita chamou a atenção da professora auxiliando-a a repensar seu papel social interligado ao desenvolvimento cultural e científico. Retomou sua reflexão quanto ao processo de aprendizagem da escrita considerando as questões envolvidas nas aprendizagens individuais dos estudantes e como essa aquisição é complexa e abrangente.
Nesse contexto, ela organizou uma exposição para um evento escolar focando nos diferentes suportes que foram utilizados ao longo da evolução da escrita (folhas, madeira, argila, pedra, papiro, entre outros). Estimulou os estudantes a criarem textos não convencionais, com escritas sintéticas, em que puderam utilizar tecidos, carvão, elementos naturais e pincéis. Desse modo, os estudantes puderam produzir desenhos rupestres que expressassem suas intenções de escrita e tiveram seus saberes valorizados nesse processo de aquisição.
Notamos a relevância de repensar as diferentes construções do processo de aquisição da leitura e da escrita para ações assertivas e significativas. Com base nesse repertório, você conseguirá analisar com um olhar mais apurado as concepções das teorias construtivistas que chegaram na década de 80 e apresentam grande influência nas práticas atuais.
Saiba Mais
Leia o documento do MEC/SASE Planejando a próxima década – conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação, que fornece informações relevantes do Plano Nacional de Educação e explica as 20 metas definidas como primordiais, acessando o link: https://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf.
Sugerimos a obra O livro da escrita (O homem e a comunicação) que, por meio de leitura simples e divertida apresenta a evolução da escrita na humanidade, enfatizando sua importância e seu poder de comunicação.
Assista ao filme Os Croods, uma animação inteligente e divertida que traz elementos da comunicação a partir de registros nas pedras.
Para ampliar sua perspectiva do processo histórico-cultural da escrita, recomendamos a leitura do artigo O processo de alfabetização: da pré-história da escrita a escrita simbólica, que aborda o desenvolvimento cultural do psiquismo destacando os vínculos existentes entre fala e escrita.
Referências Bibliográficas
BRASIL. Ministério da Educação. Planejando a próxima década: conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Brasília, DF: MEC/SASE, 2014. Disponível em:
https://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014. Acesso em: 16 jan. 2024.
GONTIJO, C. M. M. Alfabetização: a criança e a linguagem escrita. 2. ed. Campinas: Autores Associados, 2017. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 24 jan. 2024.
GONTIJO, C. M. M. Alfabetização: políticas mundiais e movimentos nacionais. 1. ed. Campinas: Autores Associados, 2022. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 24 jan. 2024.
HIGOUNET, C. História concisa da escrita. Tradução de Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola, 2003.
MARTINS, L., CARVALHO, B., DANGIÓ, M. C. S. (2018). O processo de alfabetização: da pré-história da escrita a escrita simbólica. Psicologia Escolar e Educacional, v. 22, n. 2. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2175-35392018018976. Acesso em:
MORTATTI, M. Alfabetização no Brasil: conjecturas sobre as relações entre políticas públicas e seus sujeitos privados. Revista Brasileira de Educação, v. 15, n. 44, Rio de Janeiro, maio/ago. 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782010000200009. Acesso em: 16 jan. 2024.
MORTATTI, M. R. L. História dos métodos de alfabetização no Brasil. In: SEMINÁRIO ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO EM DEBATE, 2006, Brasília. Anais [...]. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2006.
MORTATTI, M. R. L. Os sentidos da alfabetização. São Paulo: Unesp, 2000.
SEABRA, A. G.; CAPOVILLA, F. C. Alfabetização fônica: construindo competência de leitura e escrita. 4. ed. São Paulo: Editora Ampla, 2010. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 24 jan. 2024.
SOARES, M. Alfabetização: a questão dos métodos. São Paulo: Contexto, 2016. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 24 jan. 2024.
Aula 2
Leitura e Escrita: Foco no Processo
Leitura e Escrita: Foco no Processo
Olá, estudante! Nesta videoaula você irá compreender a importância da psicogênese para o processo de aprendizagem da leitura e da escrita e como a concepção construtivista trouxe um novo olhar para os processos da infância.
Esse conhecimento é relevante para sua prática porque amplia sua visão da mudança do foco dos métodos de alfabetização para uma valorização do processo cognoscente do sujeito.
Aperte o cinto! O segundo voo vai decolar!
Ponto de Partida
Você se lembra da professora Gabriela? Isso mesmo, a que passou no concurso, assumiu a turma de alfabetização, que era um sonho, e deparou-se com um super desafio com a defasagem da turma. Muito bem! O que aconteceu na sequência foi que diante dos conhecimentos diferenciados sobre o processo de escrita: alguns escreviam, outros escreviam com muitos erros e, assim por diante, para conseguir desempenhar um trabalho de qualidade, ela buscou auxílio da coordenadora pedagógica.
Considere neste momento que você é a coordenadora da escola da professora Gabriela. Você vai orientá-la no início dessa trajetória. Para isso, precisa de embasamento teórico que possa respaldar o encaminhamento metodológico da prática educativa. O que você orientaria? Por onde começaria? Quais abordagens você traria?
Essa aula dará subsídios para esse exercício. Fique atento, e bons estudos!
Vamos Começar!
Leitura e escrita: foco no processo
Iniciaremos com algumas indagações para que você reflita com base nos métodos e concepções que estudamos na aula anterior. Você considera que o processo histórico de invenção da escrita pode se relacionar com o processo de aprendizado do sistema de leitura e escrita? Você acha que todo o longo processo de desenvolvimento de um código escrito, incluindo a construção de um alfabeto, é um processo mecânico? Será que o problema do ensino da leitura e da escrita se dá pela escolha do melhor método? Você já considerou a possibilidade de que quem aprende a ler e a escrever é um sujeito cognoscente, ou seja, que tem a capacidade cognitiva para aprender, saber e conhecer algo?
A concepção construtivista
O conteúdo desta seção é crucial para que você compreenda o processo de alfabetização. Na seção anterior, abordamos brevemente a história dos métodos de alfabetização no Brasil. O último período, conforme descrito por Mortatti (2010), destaca a influência das ideias construtivistas no país. Esse período é caracterizado pelo enfraquecimento dos métodos, sendo o foco principal do processo de ensino-aprendizagem direcionado ao sujeito que aprende. Vamos explorar mais a fundo as ideias construtivistas para uma compreensão mais completa?
As concepções construtivistas foram introduzidas no Brasil durante a década de 1980, marcadas por uma ampla disseminação das pesquisas da psicóloga argentina Emilia Ferreiro. Grande parte de sua pesquisa foi desenvolvida na Argentina, mas como foi aluna de Jean Piaget, parte foi em Genebra. Qual será a relação existente entre os estudos de Piaget e Emilia Ferreiro?
Essa perspectiva nos leva a enxergar outras formas de ensino-aprendizagem. Então, pergunto: como as crianças aprendem a partir da teoria de Piaget? Jean Piaget foi um psicólogo, biólogo, epistemólogo suíço, importante estudioso da psicologia evolutiva. De acordo com sua teoria, a epistemologia genética, ao nascer os seres humanos são submetidos às fases de desenvolvimento cognitivo, as quais ele descreveu como estágios do desenvolvimento:
- Sensório-motor: fase do desenvolvimento até dois anos. Como elementos característicos dessa fase têm-se os estímulos, o desenvolvimento sensorial, a fala e os reflexos, que até um ano não têm relação emocional e sofrem alteração para um sofrimento com sentimentos a partir de dois anos. Também é característico dessa fase o objeto sair do campo de visão e a criança acreditar que deixou de existir.
- Pré-operacional: fase do desenvolvimento dos dois aos sete anos. Nela, há o marco da linguagem, o aperfeiçoamento da especificidade, por exemplo, o som “au au” já é identificado como um cachorro, a criança já interioriza lembranças capazes de serem reproduzidas; há o animismo, o jogo simbólico e o pensamento intuitivo.
- Operacional-concreto: fase de desenvolvimento dos sete aos 12 anos, na qual a criança já pensa no concreto, apresenta conservação, reversibilidade, sabe classificar e seriar.
- Operacional formal: fase do desenvolvimento após os 11/12 anos que está relacionada com o amadurecimento cognitivo. Nessa etapa, as ideias são abstratas, hipotéticas, apresentam lógica matemática e tem como característica a estrutura de pensamento mais próxima do adulto.
Esse olhar para o desenvolvimento epistemológico, no qual se busca descobrir como o conhecimento é adquirido, instigou Emilia Ferreiro a estudar e analisar a complexidade da leitura e da escrita.
Siga em Frente...
Contribuições da psicogênese da língua escrita
A concepção construtivista compreende que o pensamento não tem fronteiras: ele se constrói, se destrói e se reconstrói. Um dos pontos principais dessa visão é a construção da própria criança com relação ao seu processo de aprendizagem.
Como já mencionado, a autora defende que a escrita pode ser compreendida de duas formas distintas: como uma transcrição gráfica das unidades sonoras ou como uma representação da linguagem. Essas concepções subsidiam visões de alfabetização bem distintas, como afirma a autora:
Ao concebermos a escrita como um código de transcrição que converte as unidades sonoras em unidades gráficas, coloca-se em primeiro plano a discriminação perceptiva nas modalidades envolvidas (visual e auditiva). Os programas de preparação para a leitura e a escrita que derivam desta concepção centram-se, assim, na exercitação da discriminação, sem se questionar sobre a natureza das unidades utilizadas (Ferreiro, 2011, p. 3).
Quando encaramos a leitura e a escrita como formas de expressar a linguagem, estamos atrelando a sua aprendizagem à compreensão e à construção de um sistema. O fundamental não é mais simplesmente a reprodução de sons e letras, mas sim a compreensão da natureza do sistema que representa a linguagem. De acordo com Ferreiro (2011), nesse processo são privilegiadas as semelhanças sonoras e não os significados, ou não há entonação retida na representação.
Nesse mesmo contexto, lembre-se de que a escrita passou por uma construção histórica. Dessa forma, há um processo para a codificação, conforme explica Emília Ferreiro:
No caso dos dois sistemas envolvidos no início da escolarização (o sistema de representação dos números e os sistemas de representação da linguagem), as dificuldades que as crianças enfrentam são dificuldades conceituais semelhantes às da construção do sistema e, por isso, pode-se dizer, em ambos os casos, que a criança reinventa esses sistemas. Bem entendido: não se trata de que as crianças reinventam as letras nem os números, mas que, para poderem se servir desses elementos como elementos de um sistema, devem compreender seu processo de construção e suas regras de produção, o que coloca o problema epistemológico fundamental: qual é a natureza da relação entre o real e a sua representação? (Ferreiro, 2011, p.16-17).
É essencial considerar que as crianças, ao entrarem em contato com o universo da leitura e da escrita, desenvolvam ideias sobre o funcionamento desses elementos. A psicogênese parte da ideia de que a aprendizagem ocorre mesmo antes do início do ensino formal, em que a criança não depende exclusivamente de um conhecimento sistemático e progressivo para formular hipóteses a respeito da leitura e da escrita. Considerando isso, a autora parte das escritas espontâneas para investigar o que as crianças pensam.
Partindo da análise desse instrumento de investigação, as escritas espontâneas, Emilia Ferreiro (2011) concluiu que a aprendizagem da leitura e da escrita acontece por meio da construção de hipóteses. Isso mesmo! Mas o que isso nos ensina? Que a aquisição desse processo se dá por fases individuais. Cada aprendiz percorrerá essas etapas em seu tempo conforme for reorganizando seus esquemas internos até compreender o sistema alfabético da escrita. Essas fases são organizadas como: garatuja, pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética, e as compreenderemos na aula seguinte.
Os professores, depois que conhecem a psicogênese da língua escrita, poderão avaliar, de forma significativa, o desempenho e o aprendizado de seus estudantes. Ler e escrever deixa de ser uma questão de discriminação visual. Observar que o aprendizado da escrita é um processo de construção social modifica a forma de planejamento do professor, que poderá trabalhar em cima dos erros de escrita dos aprendizes como um processo de aprendizado, propondo atividades relevantes.
Vale considerar também que o tempo que o estudante leva para aprender também é repensado como uma fase da construção do aprendizado. Pensar a alfabetização como um processo de construção de hipóteses transforma a visão tradicional da aprendizagem e promove o foco da aprendizagem no sujeito cognoscente.
Contudo, é necessário desmistificar a ideia de que o construtivismo é um método de alfabetização. O construtivismo é uma teoria do conhecimento, que afirma que a criança é um sujeito cognoscente, pois constrói hipóteses acerca de um objeto, no caso, a língua escrita.
Processos evolutivos de conhecimento
Emilia Ferreiro (2011) define uma nova maneira de avaliar os processos de construção da criança, ou seja, as formas como o aprendiz exprime seu aprendizado da escrita. O que importa nesse processo de avaliação são as produções infantis e, mais ainda, os esquemas de construção mental que podem ser apreendidos nesse processo. Assim, mesmo que do ponto de vista do adulto as escritas infantis pareçam meras reproduções realizadas de forma incoerente, elas traduzem o nível de elaboração entre o aprendiz e o objeto do conhecimento.
Considerando as ideias construtivistas, é possível destacar os processos evolutivos de conhecimento. A pesquisadora Magda Soares (2020) possui como fundamento as pesquisas das psicolinguistas Emilia Ferreiro e Ana Teberosky e defende que no percurso de aprendizagem da leitura e escrita e nas fases da escrita as crianças passam por processos evolutivos de conhecimento que se desenvolvem paralelamente. São eles: desenvolvimento psicogenético, consciência fonológica e conhecimento das letras.
O processo psicogenético, por exemplo, é a fase em que a criança busca a representação para a língua escrita, incluindo as etapas icônica, garatuja e pré-silábica.
No processo evolutivo da consciência fonológica, que é paralelo aos demais desenvolvimentos, a criança vai tomando consciência do som das letras e fazendo as associações. É a capacidade de refletir sobre os segmentos sonoros das palavras que pronunciamos.
As crianças nascem em um mundo em que as letras estão presentes em diferentes contextos socioculturais e, portanto, desde cedo, podemos identificar um interesse crescente para a aprendizagem das letras, principalmente aquelas relacionadas aos seus nomes próprios, dos seus familiares e dos seus pares.
As escritas espontâneas são um valioso instrumento de avaliação da construção de hipóteses da escrita pela criança. A valorização dessa prática possibilita a expressão da criança e valoriza a manifestação de seu pensamento, bem como os testes de hipóteses.
A criança que aprende a ler e escrever desenvolve um constante esforço cognitivo no sentido de recriar o sistema de escrita. Essa recriação mostra o quanto a pessoa que aprende é ativa e deve ter suas expressões valorizadas, a fim de que possa ser real usuário do sistema de escrita.
Na perspectiva da psicogênese, a aprendizagem da escrita e leitura compreende o sujeito como um ser que pensa, que constrói hipóteses, que vivencia conflitos cognitivos e que constrói conhecimentos tendo como suporte teórico dessa concepção influências dos estudos de Piaget e Vygotsky.
É importante frisar que, para Emilia Ferreiro, a escrita é um processo de construção coletiva, em que diferentes usuários deixam marcas ao longo da história. A escrita é um produto social e não um simples código estável. Um código pode ter um sistema de correspondência letra-som, mas não tem ortografia. Todas as línguas escritas têm ortografia e são um sistema complexo, nos quais uma mesma letra pode corresponder a mais de um som.
Outros exemplos utilizados pela pesquisadora são: o uso de letras maiúsculas e minúsculas, o espaço que usamos entre as palavras (que não representa a ausência de sons, mas sim a unidade da palavra, ou a pontuação, que é utilizada na escrita fonética, mas não apresenta correspondência letra/som). Esses e outros elementos relevantes você estudará na próxima aula.
Vamos Exercitar?
Vamos agora ajudar a professora Gabriela? Organize mentalmente ou verbalize, como preferir, pontos de relevância do que acabou de estudar que são imprescindíveis para o sucesso da prática da professora. De que maneira o trabalho dela precisa ser encaminhado?
Pense em uma organização escolar que privilegie o tempo que o aprendiz precisa para aprender e reconstruir o processo de interpretação da escrita. Reflita sobre a importância de olhar a escrita infantil como um processo de construção de hipóteses. O estudante aprende porque interage com o objeto escrito, escreve porque comunica algo. É um sujeito que pensa, testa e reconsidera inúmeras informações para chegar ao resultado de uma escrita alfabética. Aprender a ler e escrever é um processo magnífico de construção e reconstrução!
O professor que orienta esse processo participa de um momento único, no qual a atividade do aprendiz, aliada às informações e intervenções do meio, leva a saltos qualitativos cada vez maiores.
Saiba Mais
Devido à influência dos estudos de Jean Piaget e Lev Vygotsky na perspectiva psicogenética, sugerimos a leitura do livro Desenvolvimento e aprendizagem em Piaget e Vygotsky. A autora analisa fundamentos metodológicos e epistemológicos de ambos e contribui também com convergências e divergências conceituais entre eles.
Para aprofundar a abordagem de Emilia Ferreiro nesse processo de aquisição e escrita, recomendamos a leitura do artigo O pensamento de Emilia Ferreiro sobre alfabetização, que contribui para a compreensão desse importante momento histórico da alfabetização no Brasil.
Referências Bibliográficas
COLELLO, S. M. G. Alfabetização: o quê, por quê e como? 1. ed. São Paulo: Summus, 2021. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 24 jan. 2024.
FERREIRO, E. Reflexões sobre alfabetização. 26. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
KESSELRING, T. Jean Piaget. 1. ed. Porto Alegre: Educs, 2008. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 24 jan. 2024.
OLIVEIRA MELLO, M. C. O pensamento de Emilia Ferreiro sobre alfabetização. Mocambras, v. 1, n. 2, 2007, p. 85-92. Disponível em: https://www.proquest.com/scholarly-journals/o-pensamento-de-emilia-ferreiro-sobre/docview/224986467/se-2. Acesso em:
MARTINS, L. M.; GALVÃO, A. C. As perspectivas construtivista e histórico-crítica sobre o desenvolvimento da escrita. 1. ed. Campinas: Autores Associados, 2022. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 24 jan. 2024.
MORTATTI, M. Alfabetização no Brasil: conjecturas sobre as relações entre políticas públicas e seus sujeitos privados. Revista Brasileira de Educação, v. 15, n. 44, Rio de Janeiro, maio/ago. 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782010000200009. Acesso em: 16 jan. 2024.
PALANGANA, I. C. Desenvolvimento e aprendizagem em Piaget e Vigotski. 1. ed. São Paulo: Summus, 2015. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 18 jan. 2024.
SILVA, W.; MOCELIN, M. R. Epistemologia genética. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 24 jan. 2024.
SOARES, M. Alfaletrar: toda criança pode aprender a ler e a escrever. São Paulo: Contexto, 2020. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 18 jan. 2024.
SCHERER, A. P. R.; PEREIRA, V. W. Alfabetização: estudos e metodologias de ensino em perspectiva cognitiva. 1. ed. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2019. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 24 jan. 2024.
Aula 3
Explorando os Níveis da Escrita
Explorando os Níveis da Escrita
Olá, estudante!
Nesta videoaula você irá conhecer formas distintas de escrita como uma transcrição gráfica das unidades sonoras ou como uma representação da linguagem. Tais concepções subsidiam visões de alfabetização.
Esse conhecimento é relevante para sua prática, pois entender visões desse processo de aquisição envolve uma compreensão mais profunda da escrita em contextos variados, tornando-se o processo letrado e, consequentemente, um aprendizado social, histórico e cultural.
Aperte o cinto! O terceiro voo vai decolar!
Ponto de Partida
Está pronto? Ative seu pensamento criativo para envolver-se nos saberes desta aula. Você vai compreender que o registro de uma criança pode ter representações que para você parecem não ter sentido, mas para a psicogênese da escrita é uma possibilidade de compreender as hipóteses da aquisição do ler e do escrever.
As escritas das crianças demonstram variações conforme a fase de desenvolvimento em que o aprendiz está. Considere o caso a seguir.
Mateus, uma criança de seis anos, tem muita memória afetiva de vivências e experiências com a sua avó. Ela contava muitas histórias, ele tinha acesso a muitos livros, revistas, jornais, brincava muito com esses materiais. Em determinada atividade na escola, a professora entregou lápis e papel para um desenho livre e Mateus aproveitou para escrever muitas coisas. Nesta situação, a professora questionou o que havia escrito em um dos trechos e ele respondeu: cavalo. Ele havia grafado as letras “XAO”. Por ser uma professora de alfabetização, ela observou que a escrita apresentava uma coerência, considerando que, cada sílaba da palavra CAVALO, ele representou com uma letra.
Este é o ponto sobre o qual o convidamos a pensar: as escritas espontâneas infantis, além de considerar sua importância para a sistematização da aprendizagem no processo de alfabetização.
Vamos Começar!
Explorando os níveis da escrita
Será que as metodologias e os recursos utilizados nas escolas são bons e atuais o suficiente para ensinar a ler e escrever? Você acredita que as avaliações realizadas pelos professores nas escolas consideram os processos internos de construção de hipóteses da leitura e da escrita? Você considera importantes as hipóteses que os aprendizes constroem do sistema de escrita? Você é capaz de identificá-las? Nesta aula, você será capaz de pensar sobre esses aspectos ao mesmo tempo que aprende a identificar esses níveis.
O grafismo e sua interpretação
Recentemente, exploramos a influência das ideias da pesquisadora Emilia Ferreiro no âmbito da alfabetização em nosso país. Antes das descobertas das pesquisas psicogenéticas, a atenção estava voltada para a escolha do método mais eficaz no processo de alfabetização. Como já mencionamos, a partir da década de 1980, a abordagem central passou a ser o próprio estudante como aprendiz, ou seja, o sujeito cognoscente. É crucial ponderar sobre o conflito que emerge com a psicogênese da língua escrita. Essa transformação paradigmática foi profunda, pois envolve a redefinição do papel da escola e da intervenção didática, ou seja, a função do professor.
O aprendizado da leitura e escrita ocorre quando o estudante interage com o material escrito, podendo acontecer em diversos contextos sociais, inclusive fora do ambiente escolar. A partir dessas experiências, o estudante desenvolve hipóteses e progride em seu processo de aprendizagem. Em outras palavras, a escola não representa o único espaço para a aquisição de conhecimento, já que estamos imersos em uma sociedade letrada.
Contudo, é essencial considerar que a escola representa o ambiente de aprendizado sistematizado, no qual intervenções didáticas devem ser conduzidas com qualidade. A compreensão de que o estudante não é uma "tábula rasa" ao ingressar na escola, pois ele já pode ter adquirido conhecimentos do processo de escrita, levanta uma nova questão: como organizar e facilitar a aprendizagem da língua escrita de maneira eficaz?
Ferreiro (1985) afirma que mesmo que a criança não saiba ler, isso não é um obstáculo para que ela tenha ideias das características que podem constituir um texto escrito. Ela relata uma experiência interessante:
Quando apresentamos às crianças diferentes textos escritos em cartões e lhes pedimos que nos dissessem se todos esses cartões “servem para ler” ou se existem alguns que “não servem”, observamos dois critérios primordiais utilizados: que existia uma quantidade suficiente de letras, e que haja variedade de caracteres. Em outras palavras, a presença das letras por si só não é condição suficiente para que algo possa ser lido; se há muito poucas letras, ou se há um número suficiente porém da mesma letra repetida, tampouco se pode ler. E isso ocorre antes que a criança seja capaz de ler adequadamente os textos apresentados (Ferreiro, 1985, p. 39).
O olhar dessa experiência mostra que as características formais do grafismo estão relacionadas à variedade e quantidade suficiente de caracteres, e/ou outros critérios de classificação utilizados. Ela também responde à pergunta anterior. Esse relato mostra que o foco mudou daquele que ensina para aquele que aprende e a valorização do processo e dos conhecimentos prévios que o aprendiz tem.
A relação entre números e letras
Emilia Ferreiro (1985), no livro Psicogênese da escrita, faz descrições aprofundadas da relação dos conhecimentos apresentados pelas crianças nesse processo de aquisição. Para despertar sua curiosidade, vamos conversar brevemente sobre a progressão problemática das relações entre letras e números em três momentos significativos.
Inicialmente, letras e números se confundem não apenas devido às semelhanças gráficas marcantes, mas também porque a linha divisória essencial que a criança tenta estabelecer é aquela que separa o desenho representativo da escrita (sendo que os números são escritos de maneira semelhante às letras e, ademais, aparecem em contextos comparáveis).
O momento seguinte, que é crucial, ocorre quando se estabelece a diferenciação entre as letras utilizadas para leitura e os números empregados para contagem. Nesse ponto, números e letras já não podem mais se confundir, pois desempenham funções distintas.
Contudo, a maior problemática está no terceiro momento, trazendo um grande conflito. Ferreiro (1985, p. 46) afirma que “[...] precisamente com a iniciação da escolaridade primária (se não antes) a criança descobrirá que o docente diz, tanto ‘quem pode ler esta palavra?’ como ‘quem pode ler este número?’. Que um número possa ser lido, apesar de que não tenha letras, constitui um problema real [...].”
O processo de aquisição pode parecer simples, mas ele é complexo e exige um olhar atento e minucioso do professor que, necessariamente, precisa estar sensível e compreender bem o processo para facilitar que a aprendizagem seja significativa e efetiva.
Siga em Frente...
Níveis da escrita segundo Emilia Ferreiro
As investigações conduzidas por Emilia Ferreiro seguiram a abordagem piagetiana, a qual postula que a aprendizagem ocorre por meio de fases predefinidas. Isso implica que todos os indivíduos atravessam as mesmas etapas, embora não simultaneamente, e que a duração de cada fase varia individualmente.
Ao examinar as produções de escrita espontânea das crianças, ela notou que todas seguem os mesmos procedimentos de desenvolvimento. Posteriormente, identificou esses processos de aquisição da escrita, classificando-os nas etapas seguintes: pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética. A análise desse tipo de escrita pelo educador possibilita a percepção do nível de desenvolvimento em que o estudante se encontra e como auxiliá-lo em seu progresso.
De acordo com Ferreiro (2011), as escritas infantis eram frequentemente percebidas pelos adultos como simples garatujas, sem significado algum. Mesmo quando as crianças incorporavam letras em suas produções, isso era interpretado como uma mera tentativa inadequada de escrita. Não havia a mínima consideração de que esses processos estivessem vinculados a esquemas mentais de construção de conhecimento. Conforme escreve Ferreiro (2011, p. 11):
Sabemos agora que há uma série de passos ordenados antes que a criança compreenda a natureza de nosso sistema alfabético de escrita e que cada passo caracteriza-se por esquemas conceituais específicos, cujo desenvolvimento e transformação constituem nosso principal objeto de estudo. Nenhum desses esquemas conceituais pode ser caracterizado como simples reprodução – na mente da criança – de informações reproduzidas pelo meio. Esses esquemas implicam sempre um processo construtivo no qual as crianças levam em conta parte da informação dada, e introduzem sempre, ao mesmo tempo, algo de pessoal. O resultado são construções originais, tão estranhas a nosso modo de pensar, que, à primeira vista, parecem caóticas (Ferreiro, 2011, p. 11).
O que Ferreiro (2011) define aqui é uma nova maneira de avaliar os processos de construção da criança, ou seja, as formas como o aprendiz exprime seu aprendizado da escrita. O que importa nesse processo de avaliação são as produções infantis e, mais ainda, os esquemas de construção mental que podem ser apreendidos nesse processo. Assim, mesmo que do ponto de vista do adulto as escritas infantis pareçam meras reproduções realizadas de forma incoerente, elas traduzem o nível de elaboração entre o aprendiz e o objeto do conhecimento. Vamos conhecer cada fase e, no final, um funil que mostra o processo dessa aquisição.
A fase primeira fase é marcada por três momentos: a icônica, a garatuja e pré-silábica. A criança aprende a distinguir desenhos e letras, construindo uma consciência dessa diferenciação. Ela começar a representar a escrita com risquinhos, bolinhas e, conforme amplia seu repertório, vai registrando desenhos, letras e aprendendo a diferenciá-los. De acordo com Ferreiro (2011), a criança não inventa novas letras por conta, ela recebe essa informação do ambiente social e se empenha em estabelecer critérios para a escrita.
Nessa mesma fase, os traçados vão se aperfeiçoando e um dos critérios estabelecidos pela criança é a quantidade mínima de letras para compor um texto, inicialmente três. À medida que progride, a criança incorpora critérios qualitativos ao texto escrito, como a diversidade de letras. Nessa etapa, a criança ainda não utiliza o valor sonoro das letras na produção da escrita e existe a presença fortíssima do realismo nominal, no qual a criança representa a escrita conforme as percepções que ela tem acerca do objeto ou animal. Por exemplo, se ela vai escrever a palavra BOI, certamente representará essa escrita com letras aleatórias e muitos símbolos “NHTRFDIOBVWAL”. Se a escrita fosse a palavra FORMIGA, ela representaria a escrita com o mínimo de letras possíveis, no caso dessa fase, três “JDA”. Mas por que isso acontece? Se o boi é um animal grande, ela precisa representar muitas letras para significar o tamanho e a percepção que tem do animal; se ele é pequeno, o raciocínio é o mesmo, com menos letras.
A terceira fase, denominada silábica, é marcada pela utilização de uma letra para cada sílaba. Emilia afirma que:
Essas partes da palavra são inicialmente as suas sílabas. Inicia-se, assim, o período silábico, que evolui até chegar a uma exigência rigorosa: uma sílaba por letra, sem omitir sílabas e sem repetir letras. Esta hipótese silábica é de maior importância, por duas razões: permite obter um critério geral para regular as variações na quantidade de letras que devem ser escritas, e centra a atenção da criança na variação sonora entre as palavras (Ferreiro, 2010, p. 27).
Essa hipótese cria conflitos a serem resolvidos, como as palavras monossilábicas, que deveriam ser escritas com apenas uma letra, o que já não é aceito pela criança. A existência de conflitos desempenha um papel primordial no avanço da criança em direção de novas hipóteses, uma vez que ela precisa resolver desafios utilizando uma lógica diferente daquela que já possui. Outra característica interessante dessa fase é que, na hipótese silábica, as letras podem adquirir valores estáveis, correspondentes à suas formas gráficas, mas também podem ser representadas por letras aleatórias que representem a quantidade de sílabas, sem a correspondência do som com a grafia. Por exemplo, escrever, na primeira situação, a palavra CAVALO utilizando possibilidades de escrita como “CVL”, “AAO”, “CAL”, entre outras combinações. No segundo exemplo, a palavra CAVALO pode ser representada por qualquer letra, porque não faz relação com o som “EFB” ou “UTN”.
Esses conflitos são fundamentais porque o desenvolvimento da lógica da escrita vai impulsionar o aprendiz para a nova fase, denominada silábico-alfabética, que é a quarta fase. Nela, a criança identifica que existem sílabas que podem ser escritas com uma ou mais sílabas, compreende que a sílaba não pode ser entendida como uma unidade e leva o aprendiz para a última fase, a alfabética, na qual a criança domina o valor das letras e das sílabas e passará pelo processo de construção ortográfica, que faz parte dessa aquisição.
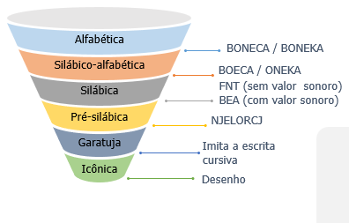
As escritas espontâneas são um valioso instrumento de avaliação da construção de hipóteses da escrita pela criança. A valorização dessa prática possibilita a expressão da criança e valoriza a manifestação de seu pensamento, bem como os testes de hipóteses. Emilia Ferreiro salientou que a criança que aprende a ler e escrever desenvolve um constante esforço cognitivo no sentido de recriar o sistema de escrita. Essa recriação mostra o quanto a pessoa que aprende é ativa e deve ter suas expressões valorizadas, a fim de que possa ser real usuário do sistema de escrita.
Vamos Exercitar?
Vamos agora ajudar a professora Gabriela? Organize mentalmente ou verbalize, como preferir, pontos de relevância do que acabou de estudar que são imprescindíveis para o sucesso da prática da professora. De que maneira o trabalho dela precisa ser encaminhado?
Ela deve ser orientada a avaliar a escrita de seus estudantes, observando os conhecimentos que já construíram, ou seja, que hipóteses eles têm sobre o processo de escrita. Para tal, é muito importante conhecer a psicogênese da língua escrita e realizar o estudo dos textos de Emilia Ferreiro. É preciso refletir sobre o que os estudantes escrevem e pensar que o que é considerado um erro pode ser apenas uma fase de desenvolvimento da aprendizagem. Após esses estudos, é necessário pensar em formas de interferência para promover o processo de aprendizagem dos aprendizes de forma significativa.
Incentive a professora a promover a escrita espontânea entre as crianças da classe. Oriente-a a considerar o processo do Mateus para entender que mais crianças têm conhecimentos diversos do processo de escrita e que seria muito interessante observar o que cada uma delas pensa sobre escrever. Reforce a importância de realizar constantes leituras para seus estudantes e incentivar incessantemente a escrita espontânea, independentemente do nível de escrita que o aprendiz estiver.
Saiba Mais
No texto a seguir, a professora Silvia de Mattos Gasparian Colello, do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Alfabetização e Letramento (GEAL) da USP, afirma que construtivismo não é um método, mas sim um conceito. Acesse em: https://www.comciencia.br/comciencia/handler.php?section=3¬icia=103.
Para um conhecimento mais detalhado das características formais do grafismo e sua interpretação, convidamos você para a leitura do livro Psicogênese da língua escrita, de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (1985). O Capítulo 2 traz um aprofundamento dos aspectos formais do grafismo com base na experiência que elas fizeram com as crianças.
Assista à palestra de Emilia Ferreiro, proferida em outubro de 2006, no 1º Seminário Victor Civita de Educação, que auxiliará na compreensão central das ideias da psicogênese.
Referências Bibliográficas
EMILIA FERREIRO – outubro de 2006. 2009. Vídeo (10min45s). Publicado pelo canal Nova Escola. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ImQa0t_qVm4. Acesso em: 24 jan. 2024.
FERREIRO, E; TEBEROSKY, A. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985.
FERREIRO, E. Reflexões sobre alfabetização. 26. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
GOULART, C. M. A.; WILSON, V. Aprender a escrita, aprender com a escrita. 1. ed. São Paulo: Summus, 2013. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 24 jan. 2024.
GOULART, C. M. A.; SOUZA, M. Como alfabetizar? Na roda com professoras dos anos iniciais. 1. ed. Campinas: Papirus, 2022. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 24 jan. 2024.
LE GOFF, J. Memória. In: LE GOFF, J. (org.). História e memória. Tradução de Bernardo Leitão e Irene Ferreira. 4. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1996.
MARTINS, W. A palavra escrita. 2. ed. São Paulo: Ática, 1996.
TAILLE, Y.; OLIVEIRA, M. K.; DANTAS, H. Piaget, Vigotski, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. 28. ed. São Paulo: Summus, 2019. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 24 jan. 2024.
Aula 4
Aprendizagem Sistemática da Leitura e da Escrita
Aprendizagem Sistemática da Leitura e da Escrita
Caro, estudante, nesta videoaula aula você vai aprender de forma concreta os processos da aquisição da leitura e da escrita e ampliar sua visão dos letramentos.
Esse conhecimento é imprescindível para sua prática, porque a escola é um espaço organizado e sistematizado, e isso exige que você tenha conhecimentos e práticas assertivos.
Prepara-se para a sua próxima jornada de conhecimento!
Pronto para decolar? Aperte o cinto!
Ponto de Partida
Olá, estudante! Reflita: o que você aprendeu até aqui fez sentido para você? Considerando as abordagens que estudamos nas sessões anteriores, queremos fazer novas provocações para fomentar seu pensamento estratégico, sua argumentação e sua prática. Vamos lá!
Você considera fundamental a escolha de um método de alfabetização? Acredita que todos os estudantes aprendem no mesmo ritmo? Acredita, ainda, que existe diferença no tempo de aprendizagem de cada pessoa? Essa diferença pode medir as capacidades individuais? A gradação e o tempo, predefinidos nos métodos de alfabetização, são suficientes para a aprendizagem de todos os estudantes?
Nesta aula, partiremos da ideia da construção da aquisição da leitura e da escrita de forma concreta, alguns vieses do letramento e visualizaremos a escola como um ambiente sistematizado. Está pronto para repensar essas fomentações? Então, vamos lá!
Vamos Começar!
Aprendizagem sistemática da leitura e da escrita
Conforme apontado por Ferreiro (2011), a escrita infantil costumava ser percebida, do ponto de vista dos adultos, como simples rabiscos desprovidos de significado. Mesmo quando as crianças incorporavam letras em suas produções, isso era interpretado como uma mera tentativa imperfeita de reproduzir a escrita. Não se considerava a mínima possibilidade de que esses processos estivessem relacionados a esquemas mentais de construção do conhecimento. Como já mencionado na aula anterior:
Sabemos agora que há uma série de passos ordenados antes que a criança compreenda a natureza de nosso sistema alfabético de escrita e que cada passo caracteriza-se por esquemas conceituais específicos, cujo desenvolvimento e transformação constituem nosso principal objeto de estudo. Nenhum desses esquemas conceituais pode ser caracterizado como simples reprodução – na mente da criança – de informações reproduzidas pelo meio. Esses esquemas implicam sempre um processo construtivo no qual as crianças levam em conta parte da informação dada, e introduzem sempre, ao mesmo tempo, algo de pessoal. O resultado são construções originais, tão estranhas a nosso modo de pensar, que, à primeira vista, parecem caóticas (Ferreiro, 2011, p.11).
O que Ferreiro (2011) define é uma abordagem inovadora na avaliação dos processos de construção infantil, ou seja, nas maneiras como o aprendiz expressa seu entendimento da escrita.
Os níveis de elaboração da escrita no concreto
O processo de avaliação recai sobre as produções das crianças e, ainda mais sobre os esquemas de construção mental que podem ser identificados durante esse processo. Dessa forma, mesmo que aos olhos dos adultos as escritas infantis possam parecer reproduções aparentemente incoerentes, elas refletem o nível de elaboração entre o aprendiz e o objeto do conhecimento. Você vai conhecer um caso concreto, identificado nas pesquisas de Emilia Ferreiro (2011). É o caso de Omar, uma criança que foi acompanhada na sua produção espontânea.
Omar entra na escola apresentando um tipo de escrita pré-silábica, mas sabe que precisa utilizar letras para escrever. Dois meses depois, Omar realizou um enorme progresso. Repare que, para a palavra “mar”, ele acrescenta mais letras, pois é insustentável escrever uma palavra com uma letra apenas. Cada palavra precisa de, pelo menos, três letras para ser escrita, segundo os critérios definidos pelas crianças em sua fase de construção da escrita. Note que, para fazer uma avaliação do tipo de escrita da criança, é necessário ouvi-la, pois assim será possível saber o que ela pensa e quais são os conflitos pelos quais passa para escrever as palavras. Serão esses conflitos e a busca pela sua resolução os propulsores de mudanças e avanços para as crianças.
A próxima escrita de Omar mostra que ele está na fase silábico-alfabética, porque algumas letras são representadas por sílabas, enquanto outras representam fonemas. Conforme afirma Ferreiro (2011), esse tipo de escrita sempre foi avaliado como omissão de letras. Na verdade, o processo é bem mais complexo que isso, pois se formos considerar o ponto de vista da criança que aprende, ela acrescentou letras com valor sonoro em seu processo de construção.
Ferreiro (2011) afirma que o fundamental nessa avaliação que se faz da escrita da criança é identificar as formas de intervenção didática que facilitam a passagem para a mudança dos esquemas interpretativos do aprendiz. Ao final do ano Omar já produziu uma escrita alfabética.
As escritas espontâneas representam uma ferramenta valiosa para avaliar o desenvolvimento das hipóteses de escrita nas crianças. Ao dar importância a essa prática, permitimos que a criança se expresse e valorizamos a manifestação de seu pensamento, incluindo os testes de hipóteses.
Siga em Frente...
Letramento: alfabetismo em prática
Alfabetizar letrando! Letramento! Esse conceito de letramento iluminou um aspecto fundamental de leitura e da escrita: a origem nas práticas sociais. Vale destacar também que, durante um longo período, a escola brasileira negligenciou exatamente o que o conceito de letramento procurou enfatizar: a importância do alfabetismo em prática. Vamos realizar uma breve incursão nas ideias de alguns autores para compreender a problemática que originou, no Brasil, a necessidade de discussões sobre letramento.
Segundo as observações de Piccoli (2012), Paulo Freire, Emilia Ferreiro e Magda Soares, figuras proeminentes nessa área atribuem diferentes conotações ao termo alfabetização, o que já evidencia a complexidade da discussão.
Freire empregou o termo alfabetização em vez de letramento. Podemos afirmar que sua abordagem da alfabetização era tão abrangente que incluía e ultrapassava o conceito de letramento. Ele estabelecia uma ligação entre a alfabetização e a consciência crítica dos indivíduos em relação à realidade que vivenciavam, com o objetivo de transformá-la. Essa perspectiva questionava a alfabetização como uma mera técnica mecânica de codificação e decodificação.
Emilia Ferreiro, da mesma forma, optou por não utilizar o termo letramento como tradução para literacy. Ela preferiu a expressão cultura escrita, argumentando que o acesso a essa cultura desencadearia o processo de alfabetização. Isso porque a participação da criança em contextos sociais nos quais a língua escrita é produzida e interpretada ocorre muito antes do ensino formal e sistemático realizado na escola.
Dada a complexidade do conceito apresentado, não é surpreendente que Ferreiro destaque que a alfabetização ultrapasse os anos iniciais da escolarização. Essa perspectiva é atraente, pois implica a continuidade de um processo que não se encerra nos primeiros anos do ensino fundamental. Tal fato sugere a distribuição do trabalho com as habilidades relacionadas à leitura e escrita ao longo de toda a trajetória educacional, formando uma responsabilidade compartilhada por todos os professores, não sendo exclusiva da professora de alfabetização. Isso ocorre porque as competências de leitura e escrita são requisitadas em todas as áreas do conhecimento ao longo de toda a vida, não se limitando apenas às aulas de linguagem.
Picolli (2012) afirma que ao revisar os principais postulados de Freire e Ferreiro identificou perspectivas que favorecem uma conceituação abrangente de alfabetização. No entanto, paradoxalmente, o impacto dessas ideias aponta para uma direção oposta: observa-se um certo apagamento do conceito de alfabetização. Ela destaca também que Soares, sem fazer referência à contribuição de Freire, situa esse movimento nas escolas brasileiras, denomina-o como a "desinvenção da alfabetização". Em sua visão, esse fenômeno é atribuído à influência das abordagens psicogenéticas e à "invenção" do conceito de letramento. A autora acredita que outras questões cruciais, que surgiram para estimular as discussões sobre a alfabetização, deslocaram o foco da abordagem linguística no ensino da leitura e escrita, especialmente nos cursos de formação de professores.
Longe de minimizar os legados do estudo da psicogênese da língua escrita de Emilia, Soares aponta como a perspectiva da psicogenética contribuiu para de “desinvenção da alfabetização”: ao privilegiar a faceta psicológica da alfabetização, obscureceu-se sua faceta linguística: fonética e fonológica. Não há culpados ou distorções: esta breve exposição quer entender as implicações pedagógicas desses movimentos, uma das quais é sinalizar que as facetas linguísticas da alfabetização não podem sucumbir diante da predominância do letramento.
Diante desse cenário, Magda Soares destaca a necessidade premente da "reinvenção da alfabetização", reposicionando-a em um novo contexto. Isso ocorre ao reconhecer que a alfabetização não está em oposição à relação entre a codificação e decodificação, mas sim associada à técnica de leitura e escrita. Essa abordagem visa diferenciá-la do conceito de letramento. Segundo essa estudiosa, seria mais adequado preservar ambos os termos, alfabetização e letramento, ao reconhecer as diversas facetas de cada um. Para o letramento, destaca-se a imersão das crianças na cultura escrita, a participação em experiências variadas com a leitura e escrita, assim como o conhecimento e interação com diferentes tipos de gêneros de material escrito. Quanto à alfabetização, enfatiza-se a consciência fonológica, a identificação das relações entre fonemas e grafemas, as habilidades de codificação e decodificação da língua escrita, bem como o conhecimento e reconhecimento dos processos de tradução da forma sonora da fala para a forma gráfica da escrita.
Diante das exposições, a ideia de letramento ultrapassa as fronteiras escolares, permeando as diversas esferas de atividades pelas quais os sujeitos circulam. Ela envolve o conhecimento de mundo, o estudo das funções e práticas da língua escrita e seu impacto na vida social, tanto para as crianças quanto para jovens e adultos.
A escola como ambiente sistematizado
Antes de iniciar sua jornada escolar, a criança já interage com um significativo meio de alfabetização: o ambiente que a envolve, repleto de mil formas, cores e imagens. No entanto, para que esse ambiente se transforme verdadeiramente em um instrumento alfabetizador, é essencial que a criança esteja pronta para percebê-lo, e seu senso de observação e curiosidade precisam ser estimulados. É fundamental que a criança perceba que o valor social da escrita está na comunicação.
Conforme Russo (2012), a sala de aula tem o propósito de aguçar os sentidos dos estudantes, tornando-se um ambiente favorável à aprendizagem. Em algumas ocasiões, enfrentamos desafios em mantê-la organizada e preservar o material, que pode se deteriorar rapidamente. Envolver os estudantes na elaboração do material necessário pode ser uma solução para esse problema. Ao participarem do processo, eles internalizam a importância de conservá-lo, transmitindo essa responsabilidade aos colegas e para além do período em que estão envolvidos.
Para falar de um ambiente sistematizado, é imprescindível a presença do alfabeto na sala. Ele é um material de apoio de consulta e a grafia das letras e sua sequência são elementos de percepção, comparação e elaboração para as hipóteses de escrita. Vale ressaltar também que é importante ter afixadas na parede letras de imprensa, cursiva e bastão, uma vez que esses tipos de letras estão presentes em diversos portadores de texto presentes no cotidiano das crianças. Contudo, a maior ênfase dá-se à letra de forma maiúscula (bastão) por facilitar as elaborações iniciais no processo de construção do código da escrita alfabética. Outro fator importante são letras de boa qualidade, sem enfeites ou contornos que possam confundir o alfabetizando. Tudo o que for afixado nas paredes deve ter uma organização e clareza.
Nessa trajetória de aprendizado da leitura e escrita, é fundamental que o aprendiz manipule revistas e jornais para entrar em contato com as diversas formas de escrita. A sala de aula deve promover a reflexão e ser um estímulo para a leitura, a escrita e a manipulação do material didático. Um ambiente propício à aprendizagem tem o poder de converter o desinteresse de alguns em motivação.
Não é necessário que o professor aguarde um momento específico para apresentar o material escrito, baseando-se na capacidade de compreensão de todos os estudantes da turma como critério. Qualquer material pode ser introduzido em qualquer etapa do processo de aprendizagem. Cada estudante os assimilará conforme sua fase de alfabetização, ou seja, conforme as possibilidades de percepção e o nível de compreensão que possui.
Quanto aos conhecimentos curriculares, é recomendável que o professor colabore com os estudantes na elaboração de uma rotina de trabalho. Essa rotina é um procedimento que, ao mesmo tempo, organiza e orienta tanto o trabalho dos aprendizes quanto o do professor. Considerando seus objetivos e a necessidade de fomentar a reflexão sobre o sistema de escrita na língua em questão, o professor deve dar destaque, na rotina, a momentos relacionados às práticas de comunicação oral, tanto informal quanto formal, práticas de escrita com e sem auxílio e práticas de leitura conduzidas tanto pelo professor quanto pelo estudante. Você terá a oportunidade de aprofundar esses conhecimentos nas próximas unidades.
Na mesma perspectiva de ambiente sistematizado, é importante que o professor perceba a diferença entre rotina de trabalho e horário de aulas. A rotina deve atender às necessidades e interesses da turma, sendo flexível e sujeita a alterações. Atividades podem ser ajustadas ou transferidas para outros dias, mas é fundamental que os estudantes sejam informados sobre as mudanças e os motivos que as motivaram. No entanto, algumas atividades exigem dias e horários específicos, e é importante que os estudantes compreendam o motivo. Por exemplo, a sala de leitura possui um dia e horário definidos; o professor pode escolher, por algum motivo, dar aula de arte nas sextas-feiras; jogos e atividades que necessitam de mais espaço devem ser realizados sempre que o pátio estiver desocupado.
Outra estratégia que contribui para a ordenação eficiente do ambiente sistematizado é a constante organização da sala. A apresentação gradual de cada “cantinho” deve ser realizada de forma gradual. O aprendiz a liberdade de utilizar o material sempre que se sentir motivado, escolhendo o que deseja utilizar e quando, com base em seu interesse, necessidade e capacidade de compreensão.
Em certas ocasiões, o professor orienta o aluno na seleção do material, levando em consideração suas necessidades cognitivas e estimulando o avanço em seus conhecimentos. Esse também é um conhecimento que você aprofundará o conhecimento em outra unidade.
Vamos Exercitar?
Seguimos um percurso de provocações quanto o alfabetizar letrando, buscando fundamentar a prática com sentido para que sua atuação seja efetiva e assertiva.
Você visualizou um caso concreto do processo de aquisição da escrita e teve um parâmetro do que se espera de um ambiente sistematizado.
Considere que a professora Gabriela, além das estratégias que buscou se aprofundar para lecionar, precisa adequar melhor o ambiente de alfabetização para um melhor acolhimento e exploração do processo. Quais as estratégias que você sugeriria? O que não poderia faltar na sala de aula?
Saiba Mais
Sugerimos o a leitura do texto Paulo Freire e a alfabetização: muito além de um método, que desmistifica a ideia comumente circulante de que Freire teria inventado um novo método de alfabetização. Ao mesmo tempo, Magda Soares mostra a novidade das ideias de Freire na área àquela época. Acesse no link: https://plataforma.bvirtual.com.br.
Na mesma perspectiva de leitura, vale a jornada no texto Letramento e alfabetização: muitas facetas, disponível em: https://www.scielo.br/j/rbedu/a/89tX3SGw5G4dNWdHRkRxrZk/?format=pdf&lang=pt.
Para a avaliação processual do texto infantil, recomendamos que você leia A produção escrita da criança e sua avaliação, de Mayrink-Sabinson.
Referências Bibliográficas
COLELLO, S. M. G. Alfabetização: o quê, por que e como? 1. ed. São Paulo: Summus, 2021. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 24 jan. 2024.
COSTA, M. T. M. S.; SILVA, D. N. H.; SOUZA, F. F. Corpo, atividades criadoras e letramento. 1. ed. São Paulo: Summus, 2013. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 24 jan. 2024.
FARACO, C. A. Linguagem, escrita e alfabetização. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2012. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 24 jan. 2024.
HEIN, A. C. A. (org.). Alfabetização e letramento. São Paulo: Pearson, 2016. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 20 jan. 2024.
MAYRINK-SABINSON, M. L. A produção escrita da criança e sua avaliação. Leitura: teoria e Prática, ano 12, n. 22, p.26-40, dez. 1993.
PICCOLI, L. Práticas pedagógicas em alfabetização: espaço, tempo e corporeidade/Luciana Piccoli e Patrícia Camini. Erechim: Edelbra, 2012.
RUSSO, M. F. Alfabetização: um processo em construção. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
SOARES, M. Alfabetização e letramento. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2017. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 20 jan. 2024.
SOARES, M. Alfaletrar: toda criança pode aprender a ler e a escrever. São Paulo: Contexto, 2020. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 24 jan. 2024.
SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. 1. ed. São Paulo: Autêntica, 2007. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 24 jan. 2024.
Encerramento da Unidade
Fundamentos teóricos e metodológicos do processo de alfabetização
Videoaula de Encerramento
Olá, estudante!
Nesta videoaula você irá se aprofundar nos conhecimentos teóricos e metodológicos do processo de alfabetização.
Esse conteúdo é relevante na sua prática profissional para a compreensão dos processos entre alfabetizar e letrar, em uma prática efetiva e assertiva, que promova ao aprendiz uma apropriação com autonomia e protagonismo.
Prepara-se para essa jornada! Aperte o cinto!
Ponto de Chegada
Compreender e conceituar a alfabetização e os letramentos com base na perspectiva e conhecimento histórico para uma exploração intencional da aprendizagem sistemática da leitura e da escrita é a competência desta unidade. Para desenvolvê-la, você está conhecendo e entendendo o processo de alfabetização para analisar os aspectos históricos e legais que respaldam a atuação do processo alfabetizador.
Você já tem o conhecimento de que o Brasil ainda é um país com um alto número de analfabetos. Isso torna imprescindível a compreensão da temática em diferentes âmbitos. O combate ao analfabetismo é uma meta nacional que só pode ser vencida com o envolvimento e comprometimento de todos os educadores.
É possível afirmar que, no Brasil, a preocupação com a aprendizagem sistemática da leitura e da escrita de forma escolarizada coincidiu com o surgimento da república. Contudo, é importante destacar que as formas de organização dessa escolarização alcançavam uma parcela muito pequena da população.
Confirmando o contexto, podemos afirmar, segundo Mortatti (2010), que a partir da primeira década da república surgiu uma organização sistemática, metódica e intencional, considerando a leitura e a escrita como capacidades imprescindíveis para o exercício da cidadania. A partir de então, várias medidas foram tomadas nacionalmente, até que a educação fosse realmente entendida como um direito constitucional, garantindo o aprendizado da leitura e da escrita para todos.
Uma possibilidade de observar esse avanço é por meio das políticas públicas na área da alfabetização. Elas são organizadas pelo Estado e expressas em formas de leis, planejamento e financiamentos. Embora as taxas de analfabetismo no Brasil ainda sejam altas, o país já conquistou avanços significativos nos últimos tempos, conforme divulgado pelo IBGE. Vale destacar que um dos tópicos importantes a serem considerados é o investimento na formação do magistério e a equiparação do piso salarial em todo o Brasil, considerando que as disparidades regionais são intensas. Trazer tais temas para a discussão das políticas públicas é de fundamental importância para fomentar a qualidade do processo educativo no país.
Considerando essa importância, a alfabetização, o ponto-chave desta disciplina, nos faz refletir sobre métodos e processos que evidenciam a complexidade e abrangência da aquisição da leitura e da escrita. Para essa fomentação, Mortatti (2006) evidência que o aprendizado da leitura e da escrita pode ser um sucesso ou fracasso escolar, dando grande ênfase para que a escolha do método tenha fundamental importância no percurso da alfabetização.
Por quase um século muitos esforços se concentraram, sistematicamente, na questão dos métodos de ensino de leitura e de escrita. Houve disputa entre métodos novos e revolucionários e também a defesa dos métodos que eram considerados tradicionais. Contudo, nas últimas duas décadas, a questão dos métodos passou a ser considerada tradicional e os persistentes problemas do processo de aquisição de leitura e de escrita estão sendo pensados e praticados no âmbito das políticas públicas para a compreensão desse processo de aprendizagem segundo a psicogênese da língua escrita.
Sabemos que, a partir de 1980, houve influência das ideias construtivistas no Brasil, o que enfraqueceu os métodos. Seu foco principal é o processo do aprendiz na aquisição do saber. As ideias construtivistas representam uma transformação paradigmática, o que ampliou o ponto de vista escolar. O que isso quer dizer? Que quando concebemos a leitura e a escrita como uma representação da linguagem condicionamos sua aprendizagem à compreensão e construção de um sistema. A questão central deixa de ser discriminação e reprodução de sons e letras e passa a ser a compreensão da natureza do sistema de representação da linguagem, ou seja, passam a ser privilegiadas as semelhanças sonoras e não as de significado, porque a entonação não é retida na representação (Ferreiro, 2011).
Nesse raciocínio, a psicogênese parte do pressuposto que existe aprendizagem antes mesmo do processo de escolarização formal e que a criança ou aprendiz não é refém do conhecimento sistemático e gradual para desenvolver hipóteses do ato de ler e escrever. A escrita é um processo de construção coletiva, em que diferentes usuários deixam marcas ao longo da história. Ela é um produto social, não um simples código estável, porque um código pode ter um sistema de correspondência letra-som, mas não tem ortografia.
As escritas espontâneas são um valioso instrumento de avaliação da construção de hipóteses escritas pela criança. A valorização dessa prática possibilita a expressão da criança e valoriza a manifestação do seu pensamento, bem como os testes de hipóteses. Vale destacar ainda que a criança que aprende a ler e escrever desenvolve um constante esforço cognitivo no sentido de recriar o sistema de escrita. Essa recriação mostra o quanto a pessoa que aprende é ativa e deve ter suas expressões valorizadas, a fim de que possa ser real usuária do sistema de escrita.
Sendo assim, com base em análises das escritas infantis, Emilia Ferreiro concluiu que as crianças aprendem a ler e escrever por meio da construção de hipóteses, ou seja, a aprendizagem se dá por etapas individuais. É importante salientar que cada aprendiz tem seu tempo para percorrer essas etapas e reorganizar os esquemas internos para chegar à compreensão alfabética no sistema da escrita, sendo as fases nesse processo de aquisição: pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética.
É Hora de Praticar!
Compreender e conceituar a alfabetização e os letramentos a partir da perspectiva e conhecimento histórico para uma exploração intencional da aprendizagem sistemática da leitura e da escrita é a competência desta unidade. Ela vai impulsioná-lo a compreender os conceitos de alfabetização e letramentos, estabelecendo aproximações entre eles para conquistar uma prática com aplicabilidade assertiva e relevante.
Neste momento, considere que a professora Gabriela, que inicia seu trabalho na escola no segundo semestre do ano, vai ocupar a posição de outra professora que se aposentou. É uma turma do primeiro ano do ciclo e, além de desenvolver a afetividade dos estudantes, ela precisa saber como o trabalho pedagógico estava sendo conduzido. Ao conversar com a coordenadora da escola, fica sabendo que a professora era bastante tradicional e utilizava cartilha e método fônico para a alfabetização das crianças. Ela ficou apreensiva, pois, ao contrário, tinha larga experiência de trabalho dentro das concepções construtivistas. A coordenadora da escola informou que ela teria apoio para a realização do trabalho, caso desejasse empreender novos rumos com a classe em questão.
Qual deveria ser, em sua opinião, a primeira atitude da professora em relação ao processo de alfabetização dos seus estudantes? Você acredita que seria sensata a modificação da organização do processo pedagógico?
Reflita
Diante do exposto, você acredita que as metodologias e os recursos utilizados nas escolas são bons e atuais o suficiente para ensinar a ler e escrever? E as avaliações realizadas pelos professores nas escolas, será que elas consideram os processos internos da construção de hipóteses de leitura e escrita do aprendiz? Você considera importantes as hipóteses que os estudantes constroem sobre o sistema de escrita? Você é capaz de identificá-las?
Resolução do estudo de caso
As concepções da pesquisadora Emilia Ferreiro influenciaram no campo da alfabetização no nosso país. Antes dos resultados das pesquisas psicogenéticas, o foco era a escolha do melhor método para alfabetizar. Depois da década de 1980, o principal foco passou a ser o estudante que aprende, ou seja, o sujeito cognoscente. É importante refletir sobre o conflito que surgiu com a psicogênese da língua escrita.
A mudança paradigmática foi intensa, pois o que estava em jogo era o papel da escola e o papel da intervenção didática, ou seja, o papel do professor. O estudante aprende a ler e escrever por meio do contato com o material escrito, e esse contato pode se dar em qualquer lugar social, inclusive fora da escola. A partir disso, o aprendiz constrói hipóteses e avança no seu processo de aprendizagem. Ou seja, a escola não é o único lugar de aprendizado, pois vivemos em uma sociedade letrada. Mas é importante pensar que a escola é o lugar de aprendizado sistematizado, é o lugar no qual as intervenções didáticas devem ser realizadas de forma qualitativa.
O que queremos dizer é que o entendimento de que o estudante não é uma tábula rasa ao entrar na escola, uma vez que ele pode já ter desenvolvido conhecimentos do processo escrito, remete a um novo problema: como sistematizar e mediar a aprendizagem da língua escrita? O foco muda daquele que ensina para aquele que aprende. Na busca de encontrar uma solução para esse problema, ocorreu uma desvalorização das metodologias tradicionais para a alfabetização. Entretanto, devemos nos lembrar de que o construtivismo não é um método de ensino, é uma teoria de aprendizagem que prevê a interação entre sujeito e conhecimento.
Diante do exposto, é possível que a professora Gabriela trabalhe com as crianças a partir de suas concepções construtivistas. Ela vai valorizar as escritas espontâneas como investigação do processo de aquisição e vai oferecer os meios necessários para que as crianças possam avançar de um nível para o outro, sem que essa mudança traga defasagem para o processo de aprendizagem.
Dê o play!
Assimile
Aqui você terá um parâmetro geral da abordagem da unidade, compreendendo o percurso indispensável que o processo de escrita passou para que hoje pudéssemos utilizar o SEA – Sistema de Escrita Alfabética e compreendermos as contribuições das ideias construtivistas para o processo de aquisição de ler e escrever.
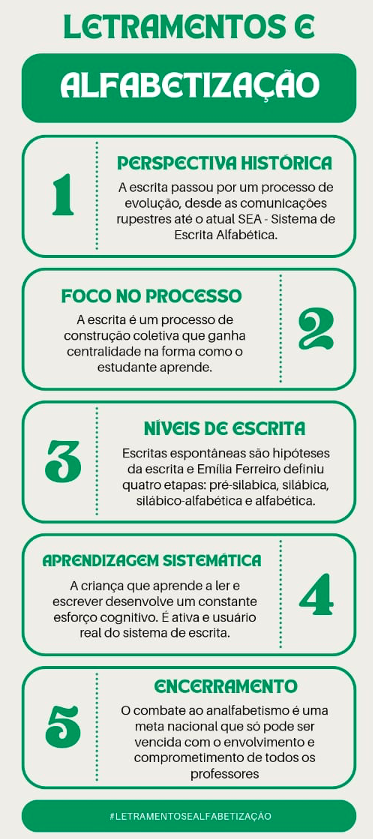
Para aprimorar seus conhecimentos, recomendamos o curso: Ensino e aprendizagem – Estrutura de Transformação Educacional, oferecido pela Microsoft. Neste curso, os líderes e educadores escolares aprendem a ajudar os alunos a alcançar seu potencial usando uma abordagem centrada no aluno para explorar todos os aspectos do ensino e do aprendizado: currículo, avaliação, dispositivos e espaços na compreensão e atendimento das necessidades de todos os alunos. É uma excelente oportunidade para você expandir suas habilidades e se conectar com as práticas mais atuais do mercado. Aproveite essa chance para complementar o que você aprendeu e se destacar ainda mais na sua jornada acadêmica e profissional. Alguns vídeos podem estar em inglês, para ativar a legenda de tradução instantânea para português, siga estes passos: |
Referências
COSSON, R. Como criar círculos de leitura na sala de aula. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2021. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 25 jan. 2024.
FERREIRO, E. Reflexões sobre alfabetização. 26. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
GOULART, C. M. A.; SOUZA, M. Como alfabetizar? Na roda com professoras dos anos iniciais. 1. ed. Campinas: Papirus, 2022. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 25 jan. 2024.
GONTIJO, C. M. M. Alfabetização: a criança e a linguagem escrita. 2. ed. Campinas: Autores Associados, 2017. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 25 jan. 2024.
GONTIJO, Cláudia M. M. Alfabetização: políticas mundiais e movimentos nacionais. 1. ed. Campinas: Autores Associados, 2022. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 25 jan. 2024.
LIMA, A. P. X. C.; FEDATO, R. B. Alfabetização e letramento na educação especial. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2020. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 25 jan. 2024.
MORTATTI, M. R. L. História dos métodos de alfabetização no Brasil. In: SEMINÁRIO ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO EM DEBATE, 2006, Brasília. Anais [...]. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2006.
PICOLLI, L.; CAMINI, P. Práticas pedagógicas em alfabetização: espaço, tempo e corporeidade. Porto Alegre: Edelbra, 2013.