Atividade Empresarial e Legislação Trabalhista
Aula 1
Relação De Emprego E Contrato De Trabalho
Relação de emprego e contrato de trabalho
Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?
Bons estudos!
Ponto de Partida
Olá, estudante! Boas-vindas ao fascinante universo do direito do trabalho, um ramo do direito que regula as relações de trabalho, especialmente a relação de emprego, moldando e protegendo os direitos dos trabalhadores na sociedade. Nesta jornada de conhecimento, exploraremos as definições e os princípios que regem a prestação de trabalho subordinada, mergulhando no entendimento proposto por renomados juristas. Também estudaremos o contrato de trabalho, bem como seus requisitos e suas espécies.
Para o desenvolvimento de nossas reflexões, partiremos das seguintes questões: qual a importância dos princípios no direito do trabalho e como eles contribuem para a construção de um ambiente mais equitativo nas relações laborais? O que diferencia a relação de emprego de outras formas de trabalho, como trabalho autônomo, eventual e avulso, e como essas distinções impactam os direitos e os deveres das partes envolvidas? Por que o contrato de trabalho é, em regra, por prazo indeterminado, e como essa prática se alinha com os objetivos do direito do trabalho?
Vamos lá?
Vamos Começar!
Direito do trabalho: definição e princípios
Direito do trabalho é um conjunto de princípios e regras jurídicas que regem a prestação de trabalho subordinada ou outras similares, por meio da tutela do trabalho. Na concepção de Maurício Goldinho Delgado (2023), o direito do trabalho pode ser definido como um complexo de princípios, regras e institutos jurídicos que regulam a relação de emprego e outras relações de trabalho normativamente especificadas. Além disso, pode-se afirmar também que o direito do trabalho é ramo do direito privado, envolvendo uma relação jurídica entre particulares.
O direito do trabalho pode ser dividido em dois campos distintos: o direito individual do trabalho e o direito coletivo do trabalho. O primeiro consiste no conjunto de normas que consideram, individualmente, o empregador e o empregado, unidos em uma relação contratual, tal como ocorre quando um trabalhador celebra um contrato de trabalho com uma empresa; o segundo se destina a regulamentar as relações coletivas entre empregados, empregadores e suas entidades sindicais, quando, por exemplo, a empresa celebra um acordo coletivo com o sindicato, criando normas e condições de trabalho (Resende, 2023).
Vamos conhecer agora os princípios do direito do trabalho? Os princípios jurídicos são espécies de valores considerados relevantes para a sociedade, tais como justiça, liberdade, paz, dignidade da pessoa humana, etc. Embora nem sempre estejam explícitos na lei ou no texto constitucional, os princípios têm força normativa e função de fundamentar o direito, interpretando-o e auxiliando em sua aplicação. No campo do direito do trabalho, os princípios dão sentido às normas trabalhistas e regulamentam as relações de trabalho.
O princípio da proteção talvez seja o mais completo e o mais importante do direito do trabalho, reconhecido como o princípio dos princípios do direito do trabalho (Renzetti, 2021), pois prescreve a necessidade de optar pela norma e pela condição mais favorável ao trabalhador. Ele pressupõe que o trabalhador é a parte mais fraca na relação de emprego (o hipossuficiente), por isso merece proteção. Logo, o propósito desse princípio é corrigir desigualdades, bem como fundamentar a imperatividade das normas trabalhistas, o que significa, em tese, que as partes, na celebração de um contrato de trabalho, não poderiam afastá-las.
Se, em determinada situação, estivermos diante de duas ou mais normas a serem aplicadas, deveremos optar pela norma mais favorável ao trabalhador, independentemente de sua posição na hierarquia. Além disso, situações vantajosas que se incorporaram ao patrimônio do empregado, por força do contrato de trabalho, não poderiam ser posteriormente retiradas, pelo princípio da condição mais benéfica.
O princípio da primazia da realidade é outro princípio essencial do direito do trabalho, cuja intenção é impedir que documentos formais prevaleçam sobre a verdade. Muitas vezes, o contrato de trabalho não retrata a realidade, ou seja, a situação de fato e a real condição de trabalho. Nesse caso, devemos desprezar a ficção jurídica e sempre nos pautar pela verdade. Portanto, “havendo confronto entre a verdade real/fatos e a verdade formal/provas, a primeira prevalecerá” (Renzetti, 2021, p. 29).
O princípio da irrenunciabilidade tem o propósito de limitar a autonomia da vontade das partes na negociação, ao defender a irrenunciabilidade de muitos direitos trabalhistas, não podendo o trabalhador dispor deles, ainda que essa seja sua vontade. Sabe-se que, pelo receio de perder o emprego, muitos trabalhadores aceitam certas condições, às vezes, contrárias à lei. Por isso, tal princípio tem por objetivo impedir a renúncia de direitos, sem impedir o trabalhador de negociar o modo de exercício deles.
O princípio da continuidade da relação de emprego, por sua vez, tem por fundamento a preservação do emprego. Para que você entenda a lógica desse princípio, faz-se necessário observar que o contrato de trabalho, em regra, é de trato sucessivo e se concebe por prazo indeterminado (sem fixar a data final de término do contrato do trabalho). O que se busca, portanto, é a continuidade da relação de emprego, a fim de manter o trabalhador empregado, fator que gera benefícios não somente para ele, mas para sua família e toda a sociedade (Renzetti, 2021).
Por último, e não menos importante, não podíamos deixar de estudar o princípio da razoabilidade, aplicável em todos os campos do direito. Esse princípio está intimamente ligado ao de boa-fé (agir com padrões éticos e morais em uma relação) e se constrói sobre os valores da razão e da justiça. Seu pressuposto é o de que o ser humano adote condutas e tome atitudes com bom senso, e não de forma arbitrária. O fato de ser um princípio de caráter abstrato não o impede de restringir a conduta humana em situações que podem violar a dignidade do indivíduo (Leite, 2023).
Relação de trabalho
O direito do trabalho regulamenta e protege as relações de trabalho, com ênfase na relação de emprego. Então, a relação de trabalho tem caráter genérico e se refere a todas as relações jurídicas cujo objeto é o labor humano: a relação de emprego, a relação de trabalho autônomo, a relação de trabalho eventual, de trabalho avulso e outras modalidades de pactuação de prestação de labor, tais como o trabalho de estágio, etc. Ou seja, toda relação jurídica em que uma das partes realiza uma atividade com dispêndio de energia pode ser considerada relação de trabalho. Mas, cuidado! Isso não significa que o direito do trabalho tutela e regulamenta toda e qualquer relação de trabalho. Por exemplo, esse campo do direito não rege a relação de trabalho do servidor público estatutário, que é normatizada pelo direito administrativo e por leis específicas.
Vamos entender as relações existentes nos trabalhos autônomo, eventual e avulso? Comecemos com o autônomo. A mais importante característica do trabalho autônomo é a ausência de dependência ou subordinação jurídica entre o prestador de serviço (trabalhador) e o tomador de serviços (aquele que contrata). Nas palavras de Adriana Calvo (2023, p. 25): a “principal característica da atividade do autônomo é sua independência, pois a sua atuação não possui subordinação a um tomador de serviço”. Nesse contexto, o prestador de serviço desenvolve o trabalho para uma ou mais pessoas, de forma autônoma, com profissionalidade e habitualidade, atuando por conta própria.
O trabalho eventual, por sua vez, refere-se ao labor de caráter esporádico, de curta duração e não relacionado, em regra, com a atividade-fim de uma empresa, ou seja, com a sua principal função. A relação de trabalho eventual, na visão de Delgado (2023), caracteriza-se por aquela em que o trabalhador presta serviços ao tomador sem permanência (daí a noção de eventualidade). O eventual, então, trabalha sem habitualidade e, em regra, com autonomia.
Sob o ponto de vista jurídico, o trabalhador avulso é aquele que presta serviços a diversas empresas, sem criar vínculos com elas, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria. Em outras palavras, avulso é o obreiro que oferta o seu trabalho a distintos tomadores, sem se fixar, especificamente, com qualquer um deles, por curtos períodos. A grande característica do avulso é o fato de atuar em um mercado específico, por meio de uma entidade intermediária, que realiza a interposição da força de trabalho avulsa, em face dos distintos tomadores de serviço, que poderão ser armazéns de portos, navios em carregamentos ou descarregamento, importadores e exportadores e outros operadores portuários.
Relação de emprego
A relação de emprego (aquela em que há o registro em carteira de trabalho) é uma das modalidades da relação de trabalho que tem características peculiares e segue normas e princípios aplicados apenas àquele que, juridicamente, é considerado empregado. Especificamente, os arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) definem a figura do “empregador” e do “empregado”, respectivamente:
Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário (Brasil, 1943, arts. 2º e 3º, caput).
Esses dois artigos transcritos da CLT apresentam todos os elementos, requisitos ou critérios caracterizados da relação de emprego. A prestação de trabalho por uma pessoa física a outrem pode se caracterizar de diversas maneiras. Todavia, só teremos relação de emprego se essa prestação ocorrer com subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. Quando presentes esses elementos, estaremos diante de uma típica relação de emprego.
Primeiramente, o serviço deve ser prestado sempre por pessoa física, não podendo, obviamente, o empregado ser pessoa jurídica. Apenas o empregador é que poderá ser pessoa física ou pessoa jurídica. Outro requisito importante é a pessoalidade, ou seja, o trabalhador deve, pessoalmente, executar o serviço, que não poderá ser substituído por outro. Nesse sentido o contrato de emprego é intuitu personae em relação ao empregado, sendo permitido apenas que ele preste o serviço (Calvo, 2023).
Por sua vez, a não eventualidade, que aparece na definição de empregado do art. 3º da CLT, diz respeito ao fato de que a prestação de serviço deve ser habitual, de forma contínua e permanente. Sendo assim, para se caracterizar uma relação de emprego e o trabalhador ser considerado “empregado”, no sentido jurídico do termo, o labor não pode ser prestado eventualmente. Isso não significa que o trabalhador precise comparecer todos os dias da semana na empresa, ou duas, ou três vezes. Nesse caso, tente se recordar das características do trabalhador eventual para estabelecer um paralelo.
A onerosidade é outro requisito importante da prestação de serviço empregatícia. Se o trabalho é gratuito, não há relação de emprego em que se impõe a necessidade do recebimento da remuneração pelos serviços executados. O trabalho voluntário pode ser realizado em entidades sem fins lucrativos, se o objetivo é o de apenas contribuir socialmente com ânimo benevolente e sem contraprestação.
O último e o mais importante requisito da relação de emprego é, sem dúvida alguma, a subordinação, termo que deriva de sub (baixo) e ordinare (ordenar) e traduz a noção etimológica de estado de dependência ou obediência em relação a uma hierarquia de posição. Ela traz a ideia de submetimento, sujeição ao poder de outros. Por isso, Delgado (2023) informa que, quando o art. 3º da CLT estatui que o serviço é prestado ao empregador “sob a dependência deste”, quis dizer que o serviço é prestado “mediante subordinação”.
Essa subordinação, no entanto, não é econômica (o trabalhador economicamente inferior ao empregador), ou social (trabalhador socialmente inferior ao empregador), ou técnica (empregador tem mais conhecimento que o empregado); é jurídica. Isso quer dizer que o empregado está subordinado juridicamente ao empregador, devendo acatar suas ordens e determinações. Em poucas palavras, podemos afirmar que a subordinação jurídica é a possibilidade de o empregador dar ordens, comandar e fiscalizar a atividade do empregado, o que pode ocorrer de maneira intensa ou mais rarefeita, a depender da natureza do trabalho prestado.
Tendo em vista que as relações de trabalho e de emprego, a cada dia que passa, tornam-se mais complexas, há, atualmente, diversos estudos sobre a subordinação, na intenção de demonstrar que, mesmo nos casos em que não há efetivo controle do empregador sobre o trabalhador, a subordinação estará presente. Pode acontecer, por exemplo, de o empregado não receber ordens diretas do empregador, mas, se estiver integrado à organização e à dinâmica da empresa, mediante um vínculo contratualmente estabelecido, estaremos diante de uma subordinação objetiva (Barros, 2017).
Siga em Frente...
Contrato de trabalho na relação de emprego
Nos termos do art. 442 da CLT, o contrato de trabalho é um acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. Trata-se, na verdade, de um acordo escrito ou verbal, celebrado entre uma pessoa física (trabalhador) e uma pessoa física ou jurídica (empregador), por meio do qual a primeira se compromete a executar pessoalmente um serviço, e a segunda a remunerar o serviço prestado. O contrato de trabalho formaliza, então, um acordo entre duas pessoas, em que cada uma assume uma obrigação. Por isso, uma de suas características é a bilateralidade, ou seja, quando o contrato de trabalho envolve duas partes – o trabalhador e o tomador de serviços.
É importante que esse contrato seja sinalagmático, com direitos e deveres mútuos para o empregador e o empregado. Assim, o acordo pressupõe um equilíbrio nas prestações de cada uma das partes. Se, por exemplo, o trabalhador for contratado para determinada função, não poderia ser exigido dele o cumprimento de tarefas alheias à função contratada, sem remunerá-lo por isso, pois haveria, em tese, um desequilíbrio nas prestações.
O contrato de trabalho também é um acordo consensual, o que significa dizer que não há maiores formalidades para a sua celebração, tal como ocorre com os contratos solenes. Aliás, é possível, inclusive, que um contrato de trabalho seja realizado tacitamente, ou seja, de forma implícita, ainda que não haja, por exemplo, registro na carteira e formalização escrita do contrato, que será válido para todos os efeitos legais.
O contrato de trabalho é personalíssimo, podendo apenas ser executado pelo empregado contratado. Isso não ocorre com a figura do empregador, que pode ser substituído tranquilamente. É o que acontece, por exemplo, quando uma empresa é sucedida, vendida, etc. Nesse caso, haverá alteração da figura do empregador no contrato de trabalho, mas este continuará vigorando normalmente em relação ao empregado (Calvo, 2023).
Ademais, o contrato de trabalho é de caráter sucessivo, pois as prestações se sucedem ao longo do tempo, além de ser um contrato de atividade, regido por obrigações de fazer, que se cumprem continuamente no tempo (Delgado, 2023). É de caráter oneroso (cada um contribui com sua obrigação) e dotado de alteridade (é o empregador quem assume todos os riscos da atividade empresarial).
Todo contrato de trabalho tem por objeto a prestação de um serviço, que deve ser lícito e/ou não proibido. Isso significa que a prestação de serviço deve estar em consonância com a lei, com a ordem pública e com os bons costumes, respeitando as normas proibitivas do Estado. O trabalho ilícito está relacionado ao objeto do contrato de trabalho, ou seja, à própria prestação do serviço, que se apresenta como ilícita, afrontando o ordenamento jurídico. Por sua vez, o trabalho proibido se refere às condições em que o trabalho é executado, e o empregado tem direito ao pagamento das verbas trabalhistas relativas ao tempo de exercício das atividades, mesmo que proibidas.
Em regra, o contrato de trabalho é válido por tempo indeterminado. O contrato por prazo determinado só é permitido se estiver em conformidade com uma das situações descritas no art. 443 da CLT e não pode ultrapassar o período de dois anos. O § 2º do art. 443 da CLT estabelece que a contratação por prazo determinado poderá ocorrer mediante três hipóteses:
- Para a realização de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, como a substituição de empregado permanente, em férias ou licença. O prazo máximo é de dois anos.
- Para atividades empresariais de caráter transitório (realizam atividades esporádicas ou por apenas um período). O prazo máximo é de dois anos.
- Para contrato de experiência (cuja finalidade é conhecer o trabalhador). O prazo máximo é de 90 dias.
O trabalhador contratado por prazo determinado, regra geral, faz jus aos mesmos direitos trabalhistas dos empregados comuns (salário, férias proporcionais, 13º salário proporcional, depósitos de FGTS), com exceção do aviso prévio, já que a modalidade de contrato prevê a data final do término.
A Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) inseriu, no art. 443 da CLT, uma nova modalidade de contratação de empregado: o trabalho intermitente. O objetivo dessa modalidade é formalizar ou oficializar o trabalho popularmente conhecido como “bico”. A ideia é acionar o empregado apenas quando houver efetivamente a necessidade da prestação de seu serviço, o que poderá ocorrer em horas, dias ou até meses alternados.
O empregado com contrato de trabalho intermitente (que também é por prazo indeterminado), conforme determina o art. 452-A, da CLT, será convocado para o trabalho com três dias de antecedência, podendo recusá-lo, se quiser. Se aceitar a convocação, a parte que descumprir o contrato sem um motivo justo terá de pagar à outra uma multa de 50% da remuneração. Ao final do período de prestação de serviço, o empregado receberá: remuneração, férias proporcionais com acréscimo de um terço, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. Durante o período de inatividade, ou seja, quando não houver prestação de serviço, o empregado não ficará à disposição do empregador, podendo prestar serviços para outras pessoas.
Trabalho temporário e trabalho terceirizado
O trabalho temporário é regulamentado pela Lei nº 6.019/1974 e pela Lei nº 13.429/2017. O trabalhador temporário é contratado por uma empresa de trabalho temporário e colocado à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços.
A duração do contrato de trabalho temporário é de até 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, desde que comprovada a manutenção das condições que o ensejaram. A empresa tomadora de serviços é responsável por garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores temporários quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local designado por ela.
O trabalho terceirizado envolve a contratação de uma empresa prestadora de serviços para fornecer mão de obra à empresa tomadora. Os profissionais terceirizados não são subordinados à empresa tomadora de serviços, sendo a prestadora responsável por selecionar, contratar e gerir esses profissionais. A empresa que fornece o serviço de terceirização é responsável por todas as etapas da admissão, desde o processo seletivo até a organização da documentação para o início do trabalho.
É permitido terceirizar todo e qualquer tipo de serviço e atividade. Os trabalhadores terceirizados são empregados da empresa de prestação de serviços a terceiros e, por isso, fazem jus aos mesmos direitos trabalhistas dos demais empregados regidos pela CLT. Nesse caso, a empresa tomadora de serviços também tem responsabilidade subsidiária (secundária), o que significa dizer que se a prestadora não quitar as dívidas trabalhistas, a tomadora poderá ser acionada para responder por essa dívida.
Suspensão e interrupção do contrato de trabalho
Tanto na suspensão quanto na interrupção não haverá cessação (fim) do contrato de trabalho, mas tão somente uma paralisação temporária da prestação de serviço. Isso significa que o empregador não poderia extinguir o contrato de trabalho nesse período de paralisação transitória, a não ser que houvesse justo motivo (falta grave pelo trabalhador a ser reconhecida pela Justiça do Trabalho) ou no caso de extinção da empresa, pois nessas situações haveria a impossibilidade da continuidade da relação laboral.
Na interrupção do contrato, o empregado não presta serviço, e o seu período de afastamento é computado para todos os efeitos legais, inclusive para a manutenção da obrigação do empregador de pagar salários e outras vantagens do empregado. As hipóteses de interrupção do contrato incluem: afastamento por motivo de doença ou acidente até o 15º dia; férias, repouso semanal remunerado; licença remunerada; ausências legais e justificadas, etc.
Na suspensão do contrato, não há prestação de serviço por parte do trabalhador, mas também não há pagamento de salário e o seu período de afastamento não é considerado para os efeitos legais. As hipóteses de suspensão do contrato incluem: afastamento por motivo de doença ou acidente após o 16º dia; ausência por motivo de greve; afastamento para prestação de serviço militar obrigatório; etc.
Vamos Exercitar?
Estudante, ao final desta aula, compreendemos o que é o direito do trabalho, quais seus princípios, o que é contrato de trabalho e quais são seus requisitos e espécies. Diante disso, já temos condições de responder os questionamentos feitos lá no início, não é?
Os princípios, no direito do trabalho, desempenham um papel crucial ao estabelecerem diretrizes éticas e morais para as relações entre empregadores e empregados. Eles fornecem um alicerce para a interpretação das normas trabalhistas, orientando a busca por equidade, justiça e proteção ao trabalhador.
A relação de emprego se destaca por envolver subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. Essas características a diferenciam de outras formas de trabalho, como o trabalho autônomo, o eventual e o avulso. Essas distinções têm implicações significativas nos direitos e nos deveres, influenciando, por exemplo, a proteção social, as condições de trabalho e a estabilidade empregatícia.
Em regra, o contrato de trabalho por prazo indeterminado visa atender ao princípio da continuidade da relação de emprego. Essa escolha visa proporcionar estabilidade e segurança ao trabalhador, contribuindo para a preservação do emprego. O princípio da continuidade reconhece que a manutenção do vínculo empregatício não apenas beneficia o trabalhador individualmente, mas também promove a estabilidade econômica e social mais ampla.
Espera-se que esta aula tenha sido enriquecedora para seus estudos e tenha proporcionado uma compreensão mais profunda do direito do trabalho e de como seus fundamentos moldam as relações laborais em nossa sociedade. Até a próxima aula!
Saiba Mais
Para saber mais sobre a relação de trabalho e a relação de emprego, leia o Capítulo I do livro indicado a seguir:
LEITE, C. H. B. Curso de Direito do Trabalho. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.
Referências Bibliográficas
BARROS, A. M. de. Curso de direito do trabalho. 11. ed. São Paulo: LTr, 2017.
BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). Rio de Janeiro: Presidência da República, 1943. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 26 abr. 2024.
BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1° de maio de 1943, e as Leis nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Brasília: Presidência da República, 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm. Acesso em: 26 abr. 2024.
CALVO, A. Manual de direito do trabalho. 7. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2023.
DELGADO, M. G. Curso de direito do trabalho. 20. ed. São Paulo: Juspodvim, 2023.
LEITE, C. H. B. Curso de direito do trabalho. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.
RENZETTI, R. Manual de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 2021.
RESENDE, R. Direito do trabalho. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023.
Aula 2
Jornada De Trabalho E Direito Ao Descanso
Jornada de trabalho e direito ao descanso
Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?
Bons estudos!
Ponto de Partida
Olá, estudante!
Hoje, exploraremos um tema essencial para a compreensão das relações laborais e dos direitos dos trabalhadores: a jornada de trabalho, que, além de ser um componente central nos contratos de emprego, é um aspecto crucial para a proteção da integridade física e do equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal dos trabalhadores.
Propõe-se com esta aula, então, fornecer-lhe, estudante, uma visão abrangente dos elementos que compõem a jornada de trabalho, indo além da mera duração diária. Diante disso, exploraremos as nuances da legislação, os limites estabelecidos pela CLT, bem como as exceções que podem surgir em determinadas situações. Entender esses conceitos é crucial para assegurar os direitos dos trabalhadores e garantir ambientes laborais mais justos e equitativos.
Ao longo da aula, focaremos em questionamentos essenciais para a compreensão profunda do tema: como a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) impactou a concepção e a aplicação da jornada de trabalho? Quais são as implicações legais e práticas da prorrogação da jornada de trabalho, especialmente considerando as condições para a realização de horas extras? Como os intervalos interjornada e intrajornada são regulamentados pela CLT, e quais as implicações para empregado e empregador em caso de descumprimento dessas normas?
Boa aula!
Vamos Começar!
Jornada de trabalho
A jornada de trabalho é o lapso temporal diário em que o empregado se coloca à disposição do empregador, em virtude do contrato assinado por eles. Isso significa que a jornada está relacionada com o tempo destinado a um dia de trabalho. A duração do trabalho, diferentemente, traz uma noção mais ampla, porque abrange o período de labor ou disponibilidade do empregado perante seu empregador, sob diversos parâmetros de mensuração: dia (duração diária, ou jornada); semana (duração semanal), mês (duração mensal) e até mesmo ano (duração anual) (Delgado, 2023).
O objetivo primordial das normas sobre duração do trabalho é tutelar a integridade física do trabalhador, evitando-lhe a fadiga (Barros, 2017). Insere-se também dentro da jornada o tempo em que o trabalhador esteja à disposição do empregador. A Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), ao acrescentar o §2º ao art. 4º da CLT, dispôs que, se o empregado permanecer na empresa para, por exemplo, realizar atividades particulares, como descanso, lazer, estudo, alimentação, higiene pessoal, tal período não será computado como jornada de trabalho, nem tempo à disposição.
A Constituição Federal e a CLT fixaram jornada diária em 8 (oito) horas e semanal em 44 (quarenta e quatro) horas. Essa seria, em tese, a jornada máxima a ser cumprida pelo empregado, porém o ordenamento jurídico possibilita a prorrogação e a compensação da jornada. Embora isso seja regra geral, há trabalhadores com jornadas específicas, como ocorre, por exemplo, com os jornalistas (cinco a sete horas), com os operadores de telemarketing (seis horas) e com os fisioterapeutas (seis horas).
A regra é a de que todos os empregados estejam submetidos a um controle de jornada, o que é feito mediante registro em cartões de ponto, de forma manual ou eletrônica. A legislação exige do empregador a fiscalização da jornada, mas o registro apenas é obrigatório para empresas com mais de dez empregados e há uma exceção à fiscalização, pois existem empregados excluídos do controle de jornada. Segundo o art. 62 da CLT, estão excluídos do controle de jornada e, consequentemente, do recebimento de horas extras, os seguintes empregados:
- Gerentes que exercem cargo de gestão, com salário superior aos demais empregados do setor em 40%, pelo menos.
- Empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho.
- Empregados em regime de teletrabalho (inovação trazida pela Reforma Trabalhista).
Para serem excluídos do controle de jornada, o chefe ou diretor de departamento ou filial precisam ter, efetivamente, poder de mando e gestão. Isso significa que esse empregado deve ter poder de fiscalizar o trabalho de outros empregados subordinados, de admitir e demitir trabalhadores, de tomar decisões de gestão e de ter certa autonomia no trabalho.
O salário superior ou a gratificação de função, caso recebidos, justificam-se pela responsabilidade decorrente do cargo ocupado pelo gestor. Por exercerem cargos de gestão e estarem investidos de um poder de mando, esses trabalhadores, em tese, não poderiam estar restritos a um horário de trabalho fixo; daí a necessidade de não serem controlados em sua jornada. Em contrapartida, como forma de compensação, são merecedores de salários maiores em relação aos demais empregados (no mínimo, 40%).
A segunda categoria de trabalhadores excluídos do controle da jornada diz respeito àqueles que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. Aqui, a exclusão ocorre porque, se o empregado trabalha externamente, não haveria, em tese, por parte do empregador, possibilidade de controlar seu horário, como ocorre, por exemplo, com o vendedor externo. Com relação a isso, a única exigência na lei é que essa condição (ausência de controle de horário com base no art. 62, inciso II, da CLT) esteja anotada na carteira de trabalho e no registro de empregados.
O inciso III do art. 62 da CLT previu, ainda, que o empregado submetido ao regime de teletrabalho também está excluído do controle de horário. A justificativa para a exclusão é justamente o fato de que haveria dificuldade no controle, tendo em vista que o trabalho é executado no domicílio do empregado.
Porém, toda regra pressupõe exceções. Há circunstâncias em que esses trabalhadores poderão fazer jus às horas extras, isto é, quando for verificado que, na realidade, eles estão sujeitos a controle e fiscalização do cumprimento da jornada. Quer um exemplo para entender melhor? Imagine a situação em que a jornada de um vendedor, em atividade externa, é controlada e fiscalizada pela empregadora. Nesse caso, serão devidas as horas extras, simplesmente porque houve violação da finalidade da lei, que só exclui do direito à jornada extraordinária os empregados que efetivamente não estejam sob o controle. Em contrapartida, se há fiscalização do horário, as horas extras deverão ser pagas, conforme entendimento jurisprudencial.
Além disso, é preciso lembrar que o empregador tem o dever de fiscalizar a jornada de trabalho sempre que for possível. Mesmo nos casos em que o empregado trabalhe fora do estabelecimento empresarial, se houver a possibilidade de fiscalizar e controlar a sua jornada, principalmente diante dos avanços tecnológicos, não será aplicada a exceção do art. 62 da CLT. Lembre-se de que, para aplicarmos esse artigo e excluirmos os empregados do controle, é preciso demonstrar que a empregadora não tinha, de fato, condições de fiscalizar.
Prorrogação e compensação da jornada de trabalho
Já sabemos que a regra geral é o controle de jornada por meio de cartão ponto, com exceção dos excluídos dessa fiscalização. Sabemos também que a jornada não pode ultrapassar a 8ª hora diária nem a 44ª hora semanal, sob pena de o empregador ter de pagar ao trabalhador as horas que ultrapassarem esse limite. No entanto, é possível que haja a prorrogação dessa jornada. O que seria exatamente isso? Prorrogar significa prolongar, ampliar, estender. Logo, quando adiamos o término da jornada e a prorrogamos (de modo que se trabalha mais que o horário fixado), estaremos em jornada extraordinária.
No caso de necessidade imperiosa, a CLT, em seu art. 61, permite a realização de trabalho extraordinário. Você sabe o que é necessidade imperiosa? Ela decorre de situações imprevisíveis ou de casos em que é necessário concluir serviços inadiáveis da empresa, principalmente quando a inexecução do trabalho acarreta prejuízos ao empregador. Se não for caso de necessidade imperiosa, a lei apenas permite a realização de jornada extraordinária no limite de duas horas diárias, sendo que a cada hora trabalhada deverá ser acrescido um adicional de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora do empregado.
Além disso, o empregador somente poderá exigir o cumprimento de horas extras por parte do empregado se houver acordo escrito individual ou coletivo. Você já deve ter presenciado situações em que o trabalhador, na verdade, cumpre mais que duas horas extras diárias. Nesse caso, ele não receberá por todas elas? Claro que sim! E o empregador incorrerá em uma infração administrativa.
Ao lado da prorrogação de jornada, existe a compensação de jornada, que está prevista no parágrafo segundo do art. 59 da CLT. Trata-se de um instituto que visa compensar a realização de horas extras pelo empregado, em vez de remunerá-las como extras. Para que tenha validade legal, a compensação deve estar prevista em acordo escrito com o empregado, respeitada a carga horária semanal (44 horas). É importante ainda que não haja limite de dez horas de trabalho no dia. Desrespeitados esses requisitos, o acordo é desconsiderado, e haverá pagamento das horas extraordinárias.
Um exemplo muito comum de acordo de compensação de jornada ocorre mediante a realização de jornada superior durante a semana para compensar as quatro horas do sábado. Outro regime de compensação de jornada que tem crescido muito no país é o banco de horas, que é caracterizado pela possibilidade de compensar o excesso de horas laborado em um dia pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias. Tais requisitos devem ser obedecidos, sob pena de desconsideração do acordo de compensação e o consequente pagamento das horas extras.
Em regra, o banco de horas deve ser previsto por meio de acordo e convenção coletiva e “zerado” (finalizada a compensação e iniciada outra) no período máximo de um ano. Porém, a Reforma Trabalhista previu a possibilidade de realização do acordo de banco de horas de forma individual e diretamente com o empregado. Nessa hipótese, a compensação será de, no máximo, seis meses, nos termos do §5º do art. 59 da CLT.
Siga em Frente...
Intervalos interjornada e intrajornada
Para finalizar nosso estudo sobre a jornada de trabalho, ainda nos resta discutir dois temas essenciais: o trabalho noturno e a realização dos intervalos. Vamos lá?
Além dos empregados que laboram em jornada extraordinária, há aqueles que executam o trabalho no período noturno. Trata-se de trabalho geralmente prejudicial à saúde, tendo em vista o maior desgaste físico e psíquico do trabalhador (Barros, 2017).
Para os trabalhadores urbanos, o trabalho noturno é aquele executado no período da noite, entre as 22h e as 5h, conforme §2º do art. 73 da CLT. Justamente para compensar o desgaste, a lei e a Constituição Federal estabelecem que o empregado, em jornada noturna, faz jus ao recebimento de um adicional, de modo que o valor da hora noturna trabalhada seja superior ao valor da hora diurna cumprida por um empregado que realiza a mesma atividade.
A CLT, no art. 73, fixou o adicional noturno, no caso de trabalhador urbano, no patamar de, no mínimo, 20% sobre o valor da hora diurna e ainda estabeleceu mais um benefício: a hora noturna reduzida, que será de 52 minutos e 30 segundos (e não de 60 minutos), a fim de atenuar os malefícios de trabalho dessa natureza. Na verdade, essas disposições (horário, adicional e hora noturna reduzida) aplicam-se, como regra geral, aos trabalhadores privados urbanos, pois a legislação apresenta algumas especificidades no caso do trabalhador rural.
É dever do empregado cumprir o seu horário de trabalho, entretanto ele também tem direito ao descanso proporcionado pelos intervalos intrajornada e interjornadas.
O intervalo interjornada é a pausa concedida ao empregado entre o final de uma jornada diária de trabalho e o início de uma nova, no dia seguinte, para o seu devido descanso. Em poucas palavras, seria o intervalo entre duas jornadas – de um dia para outro. O art. 66 da CLT assegura ao trabalhador o intervalo interjornada de, no mínimo, 11 (onze) horas consecutivas. Isso significa que o empregado deve finalizar a jornada em um dia e iniciar a outra no dia seguinte apenas onze horas depois. Se descumprida essa regra, o trabalhador terá direito de receber pelas horas suprimidas, com adicional de 50%, conforme entendimento jurisprudencial do TST (Orientação Jurisprudencial 355 da Seção de Dissídios Individuais nº 1).
Já os intervalos intrajornada são as pausas concedidas ao trabalhador dentro da jornada diária de trabalho com o objetivo de proporcionar repouso e alimentação ao empregado. O art. 71 da CLT dispõe sobre os seguintes intervalos (não computados na duração de jornada do trabalhador):
- Jornada diária de até quatro horas: sem intervalo.
- Jornada diária de quatro a seis horas: 15 minutos de intervalo.
- Jornada diária acima de seis horas: entre uma e duas horas de intervalo.
Não sendo concedido o intervalo ou sendo concedido um menor do que aquele estipulado na CLT, o empregador deverá pagar o período restante (suprimido) com adicional de 50%, a título de indenização. A Reforma Trabalhista estabeleceu a possibilidade de reduzir o intervalo intrajornada para até 30 minutos, em jornadas diárias acima de seis horas, desde que haja convenção ou acordo coletivo, nos termos da Lei nº 13.467/2017, art. 611-A, inciso III.
Descanso (ou repouso) semanal remunerado
O trabalhador tem direito a uma folga semanal, isto é, um descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas, que deverá ser gozado, preferencialmente, aos domingos, nos termos do art. 67 da CLT e da Lei nº 605/1949. Além das 24 horas do descanso semanal remunerado, deve ser observado o intervalo interjornada de 11 horas de descanso, o que totaliza 35 horas.
Quando o trabalhador não exerce o seu direito ao descanso no domingo, o empregador deve designar outro dia, durante a semana, para que aquele usufrua do descanso semanal remunerado. Não concedido esse descanso, deve o empregador pagá-lo em dobro, sem prejuízo da remuneração do descanso semanal (Súmula nº 146 do TST).
O art. 7º, inciso XV, da Constituição Federal também determina que o dia destinado ao descanso deve ser garantido preferencialmente aos domingos. Se houver a necessidade de trabalho aos domingos, os trabalhadores têm a garantia de, pelo menos, um dia de repouso semanal remunerado, coincidindo com um domingo em cada período, conforme autorização prévia do Ministério do Trabalho e dependendo da natureza da atividade.
Mas, atenção: o art. 386 da CLT prevê a necessidade de adoção de escala de revezamento quinzenal para as mulheres que trabalham aos domingos. Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no sentido de que as mulheres devem ter descanso semanal remunerado coincidente com o domingo, a cada período de 15 dias.
A lei impõe alguns requisitos que, se não preenchidos, farão com que o trabalhador não tenha o dia de descanso de forma remunerada. Os requisitos para a aquisição do repouso são a assiduidade e a pontualidade durante a semana, de tal modo que, se o empregado tiver pelo menos uma falta injustificada na semana de trabalho, perderá a remuneração do repouso semanal.
Férias
Agora, vamos falar das férias, que são o direito de o empregado abster-se de trabalhar durante determinado período do ano, sem prejuízo do salário, desde que preenchidos certos requisitos. A finalidade principal das férias é proporcionar ao trabalhador alguns dias consecutivos de descanso, capazes de restituir-lhes as energias, o que permitirá seu retorno ao trabalho em melhores condições físicas e psíquicas.
As férias não são apenas um direito do empregado, mas também são um dever do empregador, o que permite ao trabalhador exigir-lhe o cumprimento. Não podemos esquecer que nas férias o contrato permanecerá interrompido, já que o empregado não labora, mas é remunerado.
Para que o empregado tenha direito às férias, é preciso que tenha completado ao menos um período aquisitivo, que corresponde ao lapso de 12 meses subsequentes à sua contratação. Porém, após o preenchimento do período aquisitivo, o empregador ainda teria um período de 12 meses para conceder-lhe as férias, chamado de período concessivo. Por fim, é o empregador quem define o momento em que o trabalhador usufruirá das férias.
O trabalhador tem direito a 30 dias de férias, desde que não tenha mais de cinco faltas injustificadas no período aquisitivo, já que a lei exige o requisito da assiduidade para a aquisição do direito às férias, de tal modo que, se o empregado apresentar muitas ausências sem justificativas, as férias poderão sofrer redução de dias. Isso é o que prevê o art. 130 da CLT.
Além disso, é importante pontuar que as férias podem ser concedidas de forma fracionada. Isso significa que os dias de repouso não precisam ser concedidos todos de uma única vez (30 dias corridos), visto que a lei permite ao empregador fracionar esses 30 dias em até três porções, desde que respeitado o período concessivo. Um desses períodos não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos cada um, nos termos do §1º do art. 134 da CLT.
A Reforma Trabalhista, ao introduzir o § 3º ao art. 134 da CLT, dispôs expressamente que é vedado o início das férias dois dias antes de feriado ou dia de repouso semanal remunerado. A ideia aqui é evitar que o empregador utilize os dias de feriado ou repouso na contagem dos dias das férias. Além disso, o pagamento desse período consiste no valor total do salário do empregado com o acréscimo de 1/3, conhecido como terço constitucional, e deve ser efetuado até dois dias antes do início do respectivo período, conforme art. 145 da CLT.
Atenção! Se o empregador não conceder as férias do empregado dentro do período concessivo, deverá pagar em dobro o valor total das férias, até mesmo com o terço constitucional. É possível, ainda, converter um terço das férias em abono pecuniário, conforme art. 143 da CLT. Isso significa que o trabalhador, em vez de usufruir 30 dias de férias, poderia “vender” um terço delas, gozando apenas 20 dias. O pedido deve ser feito pelo empregado até 15 dias antes de completar-se o período aquisitivo, e o empregador é obrigado a aceitar. |
As férias coletivas são aquelas concedidas a um grupo de trabalhadores. Os requisitos para a concessão delas podem ser assim resumidos: a empresa deve notificar o Ministério do Trabalho, os sindicatos da categoria e os empregados, com antecedência mínima de 15 dias das datas de início e término das férias, conforme art. 139, § 2º, da CLT. Além disso, o período das férias coletivas não pode ser inferior a 10 dias, nos termos do § 1º do art. 139 da CLT.
Vamos Exercitar?
Estudante, chegamos ao final desta aula enriquecedora sobre a jornada de trabalho, tema central nas relações laborais. Espera-se que, ao longo dela, as discussões e insights compartilhados tenham proporcionado uma compreensão mais profunda dos aspectos legais, dos desafios e das implicações práticas relacionadas à jornada de trabalho.
Agora você já tem condições de responder às perguntas feitas no início da aula, certo? Vamos lá?
A Reforma Trabalhista trouxe alterações significativas para as relações de trabalho, incluindo a exclusão de certas atividades do controle de jornada, a flexibilização dos acordos de compensação e a possibilidade de teletrabalho, exigindo uma compreensão mais detalhada das novas dinâmicas laborais.
A prorrogação da jornada está atrelada a situações de necessidade imperiosa, com limites específicos para horas extras diárias, o que exige acordo escrito e pagamento adicional. Compreender essas nuances é essencial para evitar infrações e garantir direitos trabalhistas.
Os intervalos são fundamentais para o descanso e a alimentação dos trabalhadores e são regulamentados pelos arts. 66 e 71 da CLT. O não cumprimento dessas normas pode acarretar pagamento adicional ao empregado, destacando a importância do respeito a essas pausas para o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.
Continue explorando, questionando e aprendendo. Que este conhecimento se traduza em práticas transformadoras em sua trajetória profissional. Bons estudos e até a próxima aula!
Saiba Mais
Para saber mais sobre jornada de trabalho, faça a leitura do Capítulo 13 do livro:
RESENDE, R. Direito do trabalho. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023.
Referências Bibliográficas
BARROS, A. M. de. Curso de Direito do Trabalho. 11. ed. São Paulo: LTr, 2017.
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 26 abr. 2024.
BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). Rio de Janeiro: Presidência da República, 1943. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 26 abr. 2024.
BRASIL. Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949. Repouso semanal remunerado e o pagamento do salário nos dias de feriados civis e religiosos. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1949. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0605.htm. Acesso em: 27 abr. 2024.
BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1° de maio de 1943, e as Leis nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Brasília: Presidência da República, 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm. Acesso em: 26 abr. 2024.
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Orientação Jurisprudencial 355 da Seção de Dissídios Individuais nº 1. [S. l.], 14 mar. 2008. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tst/orientacoes-jurisprudenciais/orientacao-jurisprudencial-oj-n-355-do-sdi1-do-tst/1627583817. Acesso em: 17 jun. 2024.
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula nº 146 do TST. Trabalho em domingos e feriados, não compensado. [S. l., s. d.]. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tst/sumulas/sumula-n-146-do-tst/1431369392. Acesso em: 17 jun. 2024.
DELGADO, M. G. Curso de direito do trabalho. 20. ed. São Paulo: Juspodvim, 2023.
RESENDE, R. Direito do trabalho. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559648719/epubcfi/6/44%5B%3Bvnd.vst.idref%3Dhtml22%5D!/4. Acesso em: 16 nov. 2023.
Aula 3
Remuneração e Salário
Remuneração e salário
Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?
Bons estudos!
Ponto de Partida
Olá, estudante!
Nesta aula, exploraremos dois conceitos fundamentais que, embora comumente utilizados de forma intercambiável, apresentam distinções jurídicas essenciais: remuneração e salário. Esse conhecimento é crucial para a compreensão não apenas dos direitos e dos deveres de trabalhadores e empregadores, mas também dos princípios que regem a relação entre ambas as partes.
Ao longo da aula, questionaremos as nuances desses conceitos, explorando as seguintes questões: qual é a diferença crucial entre remuneração e salário de acordo com a legislação trabalhista brasileira e com os estudiosos do direito do trabalho? Quais são os princípios fundamentais que protegem o salário e em que situações é permitido efetuar descontos no salário do trabalhador? Como as comissões e as gorjetas impactam o cálculo de diversas verbas trabalhistas, como horas extras, férias e contribuição previdenciária?
Ótimos estudos!
Vamos Começar!
Remuneração e salário: diferenças
No senso comum, usamos remuneração e salário como sinônimos. No entanto, juridicamente, os dois institutos são diferentes e apresentam também efeitos legais diversos. Por isso, começaremos nosso estudo verificando os sentidos de remuneração e salário trazidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no art. 457, que assim dispõe:
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber (Brasil, 1953, art. 457, caput).
O legislador procurou fazer uma distinção clara entre remuneração e salário: este é o ganho direto do empregado, proveniente do empregador, como contraprestação pelo trabalho realizado; aquela refere-se aos benefícios que o empregado recebe em virtude da prestação de serviços, seja do empregador, seja de terceiros. Nessa perspectiva, a palavra "remuneração" abrange a totalidade dos ganhos do empregado, provenientes do empregador ou de terceiros, enquanto o termo "salário" se refere especificamente aos ganhos recebidos diretamente do empregador em retribuição ao trabalho. É fundamental ressaltar que as gorjetas não se enquadram como salário, uma vez que são pagas por terceiros (Calvo, 2022).
Frise-que a natureza jurídica do salário é de retribuição, paga de forma habitual ao empregado pelos serviços prestados. Devido à importância da verba salarial, pois é com o salário que o trabalhador sustenta a sua família, o direito do trabalho acabou criando princípios com a intenção de proteger esse instituto. Dentre eles, é possível destacar:
- Princípio da irredutibilidade salarial: significa que o salário é irredutível, não podendo ser reduzido nem mesmo quando a empresa está em crise econômica. Entretanto, há a possibilidade de redução temporária em casos excepcionais, mediante intervenção sindical, por meio de negociação coletiva.
- Princípio da intangibilidade salarial: assegura o recebimento integral do salário pelo empregado, não podendo o empregador efetuar descontos, salvo as hipóteses legais, conforme prescrito no art. 462 da CLT e na Súmula 342 do Tribunal Superior do Trabalho.
Apesar do que preveem esses princípios, existem hipóteses em que é permitido efetuar descontos no salário do trabalhador: adiantamento (vale); verbas que decorrem de dispositivos de lei (quando a lei autoriza o desconto, como contribuição previdenciária, imposto de renda, etc.); planos de assistência odontológica, médica, seguro, previdenciária privada ou de entidade cultural/recreativa/cooperativa; e dano causado pelo empregado, desde que autorizado ou no caso de dolo.
O dolo por parte do empregado é a hipótese em que o trabalhador tenha causado danos à empresa por sua livre e espontânea vontade, ou seja, quando há a intenção e a vontade de prejudicar o empregador. Se não for caso de dolo e o trabalhador causar danos e prejuízos, o desconto no salário apenas será lícito se houver autorização do empregado por escrito.
Uma importante proteção legal, que também se relaciona ao salário, diz respeito à obrigatoriedade de pagá-lo até o 5º dia útil subsequentemente ao mês trabalhado, conforme preceitua o art. 459, parágrafo único, da CLT, com exceção das comissões, das percentagens e das gratificações, que poderão ser pagas em período superior a um mês.
Ainda no que se refere ao conceito de salário, há uma informação primordial para o seu conhecimento: todas as verbas salariais repercutem no cálculo das férias, do 13º salário, do FGTS e entram na base de cálculo da contribuição previdenciária. Não se esqueça disso, pois, ao longo desta seção, verificaremos que algumas verbas trabalhistas apresentam natureza indenizatória, logo não repercutirão no cálculo de outras verbas.
Comissões e gorjetas
Há duas verbas recebidas por alguns trabalhadores específicos que são de grande relevância: as comissões e as gorjetas.
As comissões são uma modalidade de salário paga por unidade ou serviço, isto é, por produtividade do empregado. Desse modo, os ganhos do trabalhador serão calculados com base no resultado de suas atividades. Trata-se de verba paga, normalmente, aos trabalhadores na área de vendas. É possível que a retribuição pelo serviço seja paga exclusivamente em comissões (comissionista puro) ou parte em comissões e uma parte fixa (comissionista misto).
É sempre importante saber se determinada parcela/verba trabalhista tem ou não natureza salarial, justamente para verificar sua repercussão ou não nas demais verbas. Nesse contexto, as comissões têm natureza salarial e constituem salário variável com base na produtividade e no resultado do empregado, conforme prescreve o §1º do art. 457 da CLT. Assim, por ser salário para todos os efeitos legais, as comissões incidem até mesmo sobre o pagamento de horas extras, férias, 13º salário, repouso semanal remunerado, FGTS e entram na base de cálculo da contribuição previdenciária.
Já as gorjetas são parcelas pagas por terceiros aos trabalhadores (a exemplo dos garçons, dos motoristas, das pessoas que laboram em hotéis, etc.), e é justamente por isso que não se enquadram na definição de “salário” e são, portanto, uma espécie de remuneração. A gorjeta não abrange apenas os valores pagos espontaneamente pelo cliente ao empregado, mas também os valores cobrados pelas empresas, a título de serviço ou adicional, destinados à distribuição dos empregados, nos termos do § 3º do art. 457 da CLT. Um exemplo é a cobrança de taxa de serviço que os restaurantes e hotéis cobram e que são, posteriormente, distribuídas aos empregados.
Por terem caráter remuneratório, as gorjetas incidirão no cálculo do 13º salário, das férias, do FGTS, da contribuição previdenciária (INSS). Todavia, a jurisprudência (decisões pacificadas de tribunais superiores) excluiu sua incidência do cálculo de aviso prévio, das horas extras, do adicional noturno e do repouso semanal remunerado, por entender que essas parcelas são calculadas sobre o salário e não sobre a remuneração, conforme preceitua a Súmula 354 do TST.
Salário utilidade ou in natura
É possível o empregador remunerar o empregado com utilidades, desde que o valor pago em dinheiro seja de, pelo menos, 30% do salário. As utilidades incluem: habitação, alimentação ou qualquer outro bem econômico. Mas, cuidado: nem tudo o que o empregado recebe em utilidade é considerado salário!
Para você saber se uma prestação fornecida pelo empregador é salário in natura ou não, faz-se necessário saber se a utilidade é fornecida como uma vantagem pela prestação de serviço: se houver vantagem, a utilidade terá natureza salarial. Em contrapartida, se a utilidade fornecida for necessária para a prestação de serviços, não terá natureza salarial, tais como os equipamentos de segurança ou a moradia cedida a um caseiro. Assim, em síntese, a utilidade fornecida para o trabalho não tem natureza salarial; mas a utilidade fornecida pelo trabalho é salário.
Estudante, você não pode esquecer que, se a utilidade tiver natureza salarial (salário utilidade), seu valor deverá repercutir em todas as demais verbas trabalhistas, ou seja, entrará na base de cálculo das férias, do 13º salário, do FGTS, da contribuição previdenciária, etc.
Não poderíamos deixar de mencionar, ainda, o § 2º do art. 458 da CLT, que dispõe que não se consideram salário as seguintes utilidades:
I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço;
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;
III – transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público;
IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde;
V – seguros de vida e de acidentes pessoais;
VI – previdência privada;
VII – (VETADO)
VIII – o valor correspondente ao vale-cultura (Brasil, 2001, art. 458, § 2º, inc. I-VII; Brasil, 2012, art. 458, § 2º, inc. VIII).
Dessa forma, essas utilidades, ainda que concedidas pelo empregador de forma habitual, não serão consideradas salário-utilidade ou in natura por expressa disposição legal.
Siga em Frente...
Adicionais legais
Além dos salários, das comissões e das gorjetas, existem algumas verbas pagas aos empregados, de nítido caráter salarial, conhecidas como adicionais legais. Não vamos aqui discorrer sobre todos os adicionais, porém faremos uma análise dos mais comuns e dos mais importantes: o adicional de insalubridade, o de periculosidade, o de horas extras, o noturno e o de transferência.
O adicional de insalubridade é aquele pago a trabalhadores submetidos a atividades insalubres, as quais, segundo o art. 189 da CLT, são aquelas que, por sua natureza, suas condições ou seus métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados, em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Em outras palavras, trabalha em exposição a agente insalubre aquele que fica exposto à umidade, à luz excessiva, ao calor, a fungos, a bactérias, à poeira, ao barulho, a ruídos, a produtos químicos, etc.
O trabalhador que labora em condições insalubres terá direito à percepção de um adicional de insalubridade, conforme prevê o art. 192 da CLT. O adicional é proporcional ao nível de contato com o agente, podendo ser de 10% (grau mínimo), 20% (grau médio) ou 40% (grau máximo). Esse percentual será calculado, em regra, sobre o valor do salário mínimo, se não houver acordo ou convenção que preveja base de cálculo mais benéfica. É por meio de uma perícia ou laudo ambiental, realizado por um engenheiro ou técnico de segurança do trabalho, que é definida a existência ou não de agente insalubre no local de trabalho, bem como o grau da insalubridade.
Se o empregado usar um equipamento de segurança que neutralize ou que elimine a insalubridade, não terá direito a receber o adicional. Isso porque o adicional de insalubridade ostenta a natureza de salário-condição, de modo que, afastadas as condições que lhe deram ensejo, não é mais devido o pagamento de tal parcela.
A periculosidade é outro importante instituto que se relaciona com a saúde e a integridade física do trabalhador. Ela está prevista no art. 193 da CLT, que diz: labora em atividade perigosa aquele que tem contato com substâncias inflamáveis, explosivos, energia elétrica; o trabalhador exposto a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial (por exemplo: vigilante armado); e as pessoas nas atividades de trabalhador em motocicleta. O adicional de periculosidade é de 30% e será pago sobre o salário básico do empregado.
Outros adicionais salariais incluem: o adicional de horas extras de 50% (no mínimo), conforme determina o texto constitucional, sendo pago sobre o valor da hora do empregado; o adicional noturno para o trabalhador urbano, que é de 20% (no mínimo), calculado sobre o valor da hora noturna do empregado; e o adicional de transferência, no patamar de 25% do salário, a cujo recebimento alguns empregados transferidos para outros estabelecimentos da empresa poderão fazer jus.
Verbas não salariais
Para finalizar nosso estudo sobre o salário e a remuneração, apresentaremos a seguir as verbas não salariais, ou seja, parcelas pagas ao trabalhador a título de indenização, que não repercutirão no cálculo das demais verbas. Vamos a elas?
Diárias para viagem e ajuda de custo, por exemplo, não caracterizam salário. Maurício Godinho Delgado (2023) esclarece que essas verbas traduzem, na essência, ressarcimento de despesas feitas ou a se fazer em função do estreito cumprimento do contrato empregatício.
A Reforma Trabalhista (Lei n° 13.467/2017), ao alterar o § 2º do art. 457 da CLT, expressamente estatuiu que as importâncias pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação (proibido o pagamento em dinheiro), diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Isso significa que todos os valores pagos ao trabalhador sob esse título terão caráter indenizatório.
A lei também definiu, no § 4º do art. 457 da CLT, que prêmios e abonos são liberalidades concedidas pelo empregador, em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, em razão de desempenho superior ao esperado.
Vamos Exercitar?
Ao chegarmos ao fim desta aula, é gratificante reconhecer o progresso conquistado na compreensão dos intricados temas de remuneração e salário. Agora, após nossa exploração sobre as diferenças cruciais entre esses conceitos, os princípios que protegem o salário no direito do trabalho e o impacto de comissões e gorjetas nas diversas verbas trabalhistas, você, estudante, já tem as ferramentas necessárias para responder às perguntas instigantes apresentadas no início da aula.
Lembre-se de que a remuneração, abrangendo salário e benefícios diversos, é um conceito jurídico que vai além do senso comum. Remuneração é o gênero, do qual decorrem duas espécies: salário e gorjetas. Ademais, os princípios da irredutibilidade e da intangibilidade salarial formam uma sólida base de proteção para os trabalhadores, enquanto os descontos são permitidos em circunstâncias específicas, como adiantamentos e danos causados.
Ao entender como comissões e gorjetas repercutem nas diversas verbas trabalhistas, você está preparado para aplicar esse conhecimento no cenário prático, sabendo que esses elementos têm diferentes implicações legais. As comissões têm natureza salarial e incidem sobre o pagamento de horas extras, férias, 13º salário, repouso semanal remunerado, FGTS e entram na base de cálculo da contribuição previdenciária. Por sua vez, as gorjetas não têm natureza salarial e são consideradas no cálculo do 13º salário, férias, FGTS e contribuição previdenciária (INSS). No entanto, conforme a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, não incidem sobre o cálculo do aviso prévio, horas extras, adicional noturno e repouso semanal remunerado.
Continue explorando, questionando e aprimorando suas habilidades, pois a jornada de aprendizado é contínua e repleta de descobertas significativas. Até a próxima aula!
Saiba Mais
Para saber mais sobre remuneração e salário, leia o Capítulo X do Título II do livro:
LEITE, C. H. B. Curso de direito do trabalho. 15. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2023.
Referências Bibliográficas
BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). Rio de Janeiro: Presidência da República, 1943. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 26 abr. 2024.
BRASIL. Lei nº 1999, de 1º de outubro de 1953. Modifica o art. 457 e seus parágrafos do Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). Rio de Janeiro: Presidência da República, 1953. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1999.htm#art1. Acesso em: 27 abr. 2024.
BRASIL. Lei nº 10.243, de 19 de junho de 2001. Acrescenta parágrafos ao art. 58 e dá nova redação ao § 2o do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. Brasília: Presidência da República, 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10243.htm#art2. Acesso em: 27 abr. 2024.
BRASIL. Lei nº 12.761, de 27 de dezembro de 2012. Institui o Programa de Cultura do Trabalhador; cria o vale-cultura; altera as Leis nº s 8.212, de 24 de julho de 1991, e 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12761.htm#art14. Acesso em: 27 abr. 2024.
BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1° de maio de 1943, e as Leis nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Brasília: Presidência da República, 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm. Acesso em: 26 abr. 2024.
CALVO, A. Manual de direito do trabalho. 7. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2023.
DELGADO, M. G. Curso de direito do trabalho. 20. ed. São Paulo: Juspodvim, 2023.
LEITE, C. H. B. Curso de direito do trabalho. 15. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2023. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553626966/epubcfi/6/2[%3Bvnd.vst.idref%3Dcover.xhtml]!/4/2[cover]/2%4050:77. Acesso em: 16 nov. 2023.
Aula 4
Término do Contrato de Trabalho
Término do contrato de trabalho
Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?
Bons estudos!
Ponto de Partida
Olá, estudante!
Nesta aula, estudaremos diversos aspectos relacionados ao encerramento de vínculos empregatícios, tema crucial para compreendermos as dinâmicas do mundo profissional. Afinal, o término de um contrato de trabalho não é apenas um evento burocrático, mas uma etapa complexa, que envolve direitos e deveres tanto para empregados quanto empregadores.
Nesse sentido, abordaremos o aviso prévio, suas modalidades, a proporcionalidade estabelecida pela Lei nº 12.506/2011 e as nuances envolvidas na concessão, na retratação e nos efeitos jurídicos desse instituto. Além disso, discutiremos o pedido de demissão e a dispensa sem justa causa, observando os direitos e deveres de ambas as partes, com especial atenção às mudanças introduzidas pela Reforma Trabalhista. Falaremos também sobre a rescisão indireta, uma alternativa quando o empregador comete faltas graves, e as hipóteses que configuram a dispensa por justa causa, destacando a importância da proporcionalidade e do caráter pedagógico das penalidades.
Para iniciarmos as discussões, reflitamos, antes, sobre as diferentes perspectivas envolvidas no término de um contrato de trabalho: como as diferentes modalidades de aviso prévio (trabalhado e indenizado) refletem nas relações entre empregado e empregador, considerando as nuances éticas e legais envolvidas? De que forma a rescisão indireta, como alternativa ao pedido de demissão, impacta a relação empregado-empregador? Como a aplicação das justas causas, listadas no art. 483 da CLT, influencia na percepção de justiça, no ambiente de trabalho?
Vamos começar?
Vamos Começar!
Aviso prévio
A própria nomenclatura do instituto “aviso prévio” já nos diz muita coisa, pois revela a necessidade de avisar/comunicar/dar ciência a alguém, previamente/com antecedência, a vontade de dissolver um contrato de trabalho. Você precisa lembrar que um contrato de trabalho é bilateral, ou seja, envolve duas partes – empregado e empregador –, não sendo justo nem leal que uma delas resolva romper o contrato sem comunicar previamente a outra parte. Em poucas palavras, a finalidade do aviso é impedir que as partes sejam pegas de surpresa com a ruptura brusca de um contrato de trabalho indeterminado (Barros, 2017).
Por ser um instituto bilateral, o aviso prévio pode ser concedido tanto pelo empregado como pelo empregador, a depender de quem toma a iniciativa de romper o contrato. Isso significa que ambas as partes têm o dever legal de conceder o aviso à outra em caso de encerramento do contrato de trabalho.
O aviso poderá ser trabalhado ou indenizado. No primeiro caso, o empregado cumpre o período prestando serviços na empresa, enquanto, no segundo, recebe em dinheiro o valor correspondente ao aviso. Quem decide se o aviso será trabalhado ou indenizado é a pessoa que a concede, ou seja, o empregador, na hipótese de dispensa sem justa causa; e o empregado, na hipótese de pedido de demissão (Calvo, 2023).
O aviso prévio é de 30 dias em contrato, por prazo indeterminado, com menos de um ano. A Lei nº 12.506/2011 estabeleceu uma proporcionalidade em relação ao tempo do contrato de trabalho, conhecido como aviso prévio proporcional. Trata-se da possibilidade de acréscimo de três dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de até 90 dias de aviso prévio.
Atenção! O aviso prévio proporcional só é cabível nas hipóteses de dispensa sem justa causa por parte do empregador, não se aplicando aos casos em que o empregado pede demissão. Isso porque a proporcionalidade do aviso é um benefício ao trabalhador, então não seria justo puni-lo quando pede demissão. Além disso, o aviso prévio trabalhado deverá se limitar a 30 dias, e o proporcional deverá ser concedido de forma indenizada. |
Há também outra regra importante aplicada apenas nas situações em que o aviso prévio é concedido pelo empregador: o empregado terá direito a uma redução de duas horas diárias sem prejuízo do salário ou poderá deixar de trabalhar durante sete dias corridos durante o aviso, nos termos da CLT, em seu art. 488. Trata-se de uma opção à disposição do empregado, que também não se aplica quando o aviso é concedido pelo trabalhador, nas hipóteses de pedido de demissão.
A CLT, em seu art. 489, admite a possibilidade de retratação do aviso prévio, desde que a outra parte aceite, hipótese em que o contrato de trabalho continuará em vigor. Ademais, se o empregador não quer que o empregado cumpra o aviso trabalhando na empresa, terá de indenizar o período, ou seja, pagar o período do aviso em dinheiro. E se o empregado estiver em férias, o empregador deverá esperar o retorno dele e, então, conceder o aviso.
Por fim, o aviso prévio tem um efeito jurídico muito importante: seu período é computado como tempo de serviço para todos os efeitos legais. Isso significa que, mesmo nos casos em que o aviso for indenizado, seu período conta como de trabalho efetivo.
Pedido de demissão e dispensa sem justa causa
No pedido de demissão, o empregado concede ao empregador o aviso prévio de 30 dias e tem o dever de cumpri-lo, sob pena de sofrer o desconto do período do aviso nas verbas rescisórias. É facultado ao empregador dispensá-lo do cumprimento do aviso (trata-se de uma faculdade, não de um dever). Por exemplo: se um empregado consegue outro emprego e pede a dispensa do cumprimento do aviso prévio, o empregador não é obrigado a aceitá-la (Leite, 2023).
Além do dever de cumprir o aviso prévio, o empregado que pede demissão tem o direito às seguintes verbas rescisórias: salário pelos dias trabalhados, férias vencidas e proporcionais, 13º salário vencido e proporcional. Não terá direito ao seguro-desemprego nem à multa de 40% sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e não poderá sacar os valores de FGTS depositados em sua conta vinculada à empresa, na Caixa Econômica Federal.
No caso de dispensa sem justa causa pelo empregador, o dever de conceder o aviso prévio é da empresa. Assim, aplica-se o aviso prévio proporcional, considerando o tempo do contrato de trabalho. O aviso poderá ser cumprido na empresa ou indenizado, lembrando que, na hipótese de aviso trabalhado, é facultado ao empregado laborar com a redução das duas horas diárias ou se ausentar do labor durante sete dias corridos, na intenção de buscar um novo emprego (Leite, 2023).
O trabalhador dispensado pela empresa sem justa causa faz jus às seguintes verbas rescisórias: aviso prévio, saldo de salário, férias vencidas e proporcionais, 13º salário vencido e proporcional, saque de FGTS acrescido da multa de 40% e acesso ao seguro-desemprego.
A Reforma Trabalhista, com o objetivo de criar uma terceira via, ou seja, uma situação intermediária entre a dispensa e o pedido de demissão, criou a hipótese de extinção do contrato por acordo entre empregador e empregado (art. 484-A da CLT). Nesse caso, o aviso prévio, se indenizado, e a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia (multa de 40% do FGTS sobre os depósitos existentes na conta do trabalhador) serão pagos pela metade. Além disso, apenas 80% dos valores depositados de FGTS poderão ser movimentados, e não será possível o acesso ao seguro-desemprego, nos termos do art. 484-A da CLT (Leite, 2023).
Siga em Frente...
Rescisão indireta
A rescisão indireta se configura na hipótese em que o empregador comete uma falta grave a ponto de se tornar insustentável a relação de emprego. É denominada indireta porque a falta grave cometida pelo empregador gera para o empregado o direito de rescindir o contrato de trabalho indiretamente por culpa da empresa (Delgado, 2023). Nesse caso são devidas todas as verbas rescisórias que receberia se tivesse sido dispensado sem justa causa, a saber: saldo de salário, aviso prévio, férias vencidas e proporcionais, 13º salário vencido e proporcional, saque do FGTS depositado, multa de 40% do FGTS e acesso ao seguro-desemprego.
As hipóteses que configuram a justa causa do empregador estão arroladas no art. 483 da CLT e ocorrem quando:
- “Forem exigidos serviços superiores às forças do empregado, defesos por lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato” (Brasil, 1943, art. 483, alínea a): ocorre nas situações em que o empregador exige dos empregados serviço que demanda a utilização de força muscular superior ao suportável ou tarefas impossíveis de serem executadas com os recursos físicos ou técnicos do trabalhador (Barros, 2017), bem como quando se exige trabalho contrário aos bons costumes e à moral, ou que não tenham relação nenhuma com o contrato (serviço alheio).
- “For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo” (Brasil, 1943, art. 483, alínea b): ocorre quando o empregador abusa de seu poder, aplicando sanções severas; impõe metas impossíveis de serem alcançadas; estipula regras que ferem a dignidade ou a intimidade do trabalhador, tais como proibir a utilização do banheiro, etc.
- “Correr perigo manifesto de mal considerável” (Brasil, 1943, art. 483, alínea c): situação em que o empregador viola o dever de zelar pela saúde e integridade física de seus trabalhadores, deixando de seguir normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, a exemplo da ausência de fornecimento de EPIs (equipamentos de segurança) necessários ao desempenho da atividade, colocando o empregado em perigo.
- “Não cumprir o empregador as obrigações do contrato” (Brasil, 1943, art. 483, alínea d): essa é a falta mais comum cometida pelas empresas. Ocorre pelo descumprimento de normas previstas no contrato de trabalho, nas leis, nos acordos e nas convenções coletivas, a exemplo de atrasar ou deixar de pagar salários de forma reiterada.
- “Praticar o empregador ou seus prepostos, contra o empregado ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama” (Brasil, 1943, art. 483, alínea e): o ato lesivo da honra e da boa fama significa ofender a dignidade do trabalhador ou sujeitá-lo ao desprezo dos outros ou expô-lo ao ridículo. É o ato cometido pelo empregador ou preposto (representante da empresa, superiores hierárquicos, tais como os chefes de setores ou gerentes) contra o trabalhador ou alguém de sua família.
- “O empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem” (Brasil, 1943, art. 483, alínea f): nessa situação, a ofensa é física (briga corporal), praticada pelo empregador ou preposto contra o trabalhador. Só não haverá justa causa se o empregador atuar em sua legítima defesa ou de outra pessoa.
- “O empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários” (Brasil, 1943, art. 483, alínea g): essa hipótese abrange o trabalhador que é remunerado por produtividade ou com base no resultado do trabalho, a exemplo dos que ganham por comissão. É a hipótese em que o empregador reduz a carteira de clientes do empregado, afetando o seu ganho salarial.
O empregado, então, que deseja pleitear a justa causa precisa fundamentar o seu pedido em uma ou mais hipóteses do art. 483, da CLT, demonstrando a culpa empresarial e a impossibilidade de manter o contrato de trabalho. Ademais, conforme o §1º do art. 483 da CLT, o trabalhador pode escolher se continua trabalhando ou suspender os serviços enquanto aguarda a rescisão indireta.
Dispensa do empregado por justa causa
A dispensa do empregado por justa causa é a pena máxima a ser aplicada ao trabalhador, por isso é recomendável que as empresas sejam cautelosas, imputando a falta grave ao empregado apenas quando houver prova robusta da culpa. A comprovação da justa causa a ser aplicada ao empregado depende dos seguintes requisitos: a falta deve ser grave; a pena aplicada deve ser proporcional à falta cometida; para cada falta deve ter uma penalidade, não sendo possível punir duas vezes pelo mesmo ato; a penalidade deve ser aplicada imediatamente ao fato ocorrido, sob pena de perdão tácito; deve haver conduta dolosa ou culposa da parte que cometeu a falta (Leite, 2023).
Por isso é importante perceber que nem todo ato é passível de dispensa por justa causa, pois, mesmo na hipótese de o empregado incorrer em uma falta grave, nem sempre a ocorrência de um único fato ou a adoção de uma única conduta poderá caracterizar a pena máxima. A depender da situação, será necessário que o trabalhador incorra duas, três ou quatro vezes em uma falta, a fim de caracterizar a justa causa. E não existe regra ou entendimento “fechado” para isso. Cabe à empresa agir com bom senso e verificar se o ato ou a conduta do trabalhador foi grave o suficiente para justificar a aplicação da justa causa.
Em algumas situações, basta um único ato (agredir fisicamente um colega de trabalho, por exemplo); em outras situações, serão necessários atos e condutas reiteradas para caracterizar a pena de falta grave (a exemplo dos atos de insubordinação, quando o empregado não segue ordens específicas destinadas a ele). Nesta última situação, exige-se uma progressividade de faltas e penalidades, tais como a aplicação de advertências ou pena de suspensão antes da justa causa.
Lembre-se de que a pena ou sanção aplicada ao trabalhador deve ser sempre proporcional à gravidade do ato e da conduta por ele adotada. E mais: a ideia não é de apenas punir o empregado, sendo imprescindível, à luz da função social e da responsabilidade social empresarial, que o empregador exerça o caráter pedagógico da pena, isto é, orientar o trabalhador a não cometer mais o mesmo ato.
As hipóteses de justa causa aplicadas ao empregado estão previstas na CLT, no art. 482:
- “Ato de improbidade” (Brasil, 1943, art. 482, alínea a): é qualquer ato de desonestidade do empregado, no sentido de obter uma vantagem, como a prática de furto, roubo e falsificação de documento, de modo a apropriar-se do patrimônio do empregador.
- “Incontinência de conduta ou mau procedimento” (Brasil, 1943, art. 482, alínea b): é um ato faltoso de conotação sexual. O mau procedimento, por sua vez, poderá abarcar diversas situações, traduzidas pela prática de atos que firam a discrição pessoal, as regras do bem viver, o respeito e a falta de compostura.
- “Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço” (Brasil, 1943, art. 482, alínea c): é quando o empregado desempenha uma função ou realiza uma atividade na empresa sem o conhecimento do empregador, trazendo prejuízo ao serviço. Incorrerá na falta grave, da mesma forma, se concorrer com o empregador.
- “Condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena” (Brasil, 1943, art. 482, alínea d): se o empregado apenas estiver preso, sem ter sido condenado, o contrato permanecerá suspenso. A justa causa só é autorizada na hipótese de o empregado ter sido condenado, com o trânsito em julgado e sem suspensão da execução da pena, ou seja, deverá haver impossibilidade física de o empregado continuar trabalhando.
- “Desídia no desempenho das respectivas funções” (Brasil, 1943, art. 482, alínea e): é o empregado que labora com desleixo, má vontade, falta de zelo e interesse no exercício de suas funções. No geral, faz-se necessária certa repetição de atos a fim de caracterizar a desídia. A jurisprudência entende, por exemplo, que as faltas reiteradas do empregado sem justificativa, diante da ausência de compromisso com o trabalho, caracterizam-se como desídia.
- “Embriaguez habitual ou em serviço” (Brasil, 1943, art. 482, alínea f): a embriaguez no serviço, ainda que por uma única vez, pode caracterizar a justa causa, a exemplo dos motoristas. A habitual, todavia, deve ser analisada com cautela, pois os tribunais, em alguns casos, têm entendido que a embriaguez habitual (ou ingestão de substância tóxica) pode caracterizar doença do trabalhador. E, nesse caso, o contrato de trabalho deverá ser suspenso e o empregado encaminhado à Previdência Social (Barros, 2017).
- “Violação de segredo da empresa” (Brasil, 1943, art. 482, alínea g): é o ato de quebra do dever de fidelidade. Claro que, para caracterizar a justa causa, a revelação do segredo deve ser relevante e trazer prejuízo à empresa.
- “Ato de indisciplina ou de insubordinação” (Brasil, 1943, art. 482, alínea h): os dois atos se traduzem pela ausência do dever de obediência. Enquanto na indisciplina o empregado não cumpre regras gerais, na insubordinação, não segue regras ou ordens direcionadas especificamente a ele. Em regra, faz-se necessária a reiteração da conduta para caracterizar a justa causa.
- “Abandono de emprego” (Brasil, 1943, art. 482, alínea i): para caracterizar o abandono de emprego, o trabalhador deve se ausentar injustificadamente por mais de 30 dias e ter a intenção de não mais retornar ao trabalho. Por isso, o empregador deve convocá-lo ao serviço mediante o encaminhamento de carta registrada em sua residência.
- “Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem” (Brasil, 1943, art. 482, alínea j): ocorre nas situações em que o empregado ofende verbalmente ou agride fisicamente qualquer pessoa no serviço (no ambiente de trabalho). A hipótese de justa causa apenas estará afastada no caso de legítima defesa própria ou de outra pessoa.
- “Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem” (Brasil, 1943, art. 482, alínea k): é o ato de ofender verbal e fisicamente (briga corporal) o empregador ou superior hierárquico. Ressalta-se que, nessa situação, a ofensa não precisa ser no serviço, podendo ocorrer em qualquer outro ambiente.
- “Prática constante de jogos de azar” (Brasil, 1943, art. 482, alínea l): a prática reiterada de jogos deve interferir no trabalho para caracterizar a justa causa.
- “Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado” (Brasil, 2017, art. 482, alínea m): novidade introduzida pela Reforma Trabalhista, poderá ser aplicada aos profissionais que dependem de habilitação específica para exercer o labor (motoristas, médicos, advogados, etc.). Se, porventura, o trabalhador perder a habilitação por dolo (conduta voluntária e consciente), e isso impossibilitar o exercício da profissão, poderá ser dispensado por justa causa.
Sendo dispensado por justa causa, o empregado fará jus apenas às seguintes verbas rescisórias: saldo de salário, férias vencidas e 13º salário vencido. Caso o trabalhador entenda que foi injustiçado, poderá ajuizar uma ação trabalhista e requerer a reversão da justa causa. Então, caberá ao juiz analisar as circunstâncias na intenção de verificar se a empresa agiu ou não com abuso de direito. Não sendo provada a justa causa pela empresa, o juiz reverterá a demissão para sem justa causa, condenando-a ao pagamento das demais verbas rescisórias (férias e 13º proporcional, aviso prévio, multa do fundo de garantia, acesso aos depósitos de FGTS e seguro-desemprego).
Vamos Exercitar?
Estudante, com o fim desta aula, é fundamental que lhe estejam claras as complexidades e nuances presentes no término do contrato de trabalho, evidenciadas nas respostas às perguntas reflexivas.
Ao longo do texto, exploramos a dinâmica entre empregador e empregado, considerando as modalidades de aviso prévio. Percebemos que a escolha entre aviso prévio trabalhado e indenizado não apenas reflete aspectos práticos, mas também envolve considerações éticas e legais. A comunicação transparente e o respeito às obrigações são essenciais para manter a integridade nas relações laborais, mesmo em momentos de desligamento.
A discussão sobre a rescisão indireta nos levou a refletir sobre a importância do equilíbrio de poder nas relações trabalhistas. A aplicação justa das causas previstas no art. 483 da CLT não apenas protege os direitos do empregado, mas também contribui para um ambiente de trabalho ético e respeitoso. O empregador, ao zelar pelo cumprimento das normas, promove uma cultura organizacional que valoriza a dignidade e a justiça no ambiente profissional.
Por fim, a necessidade de fundamentação específica para a dispensa por justa causa ressalta a importância da transparência e da equidade nas decisões empresariais. Essa exigência, além de proteger o empregado contra arbitrariedades, incentiva a busca por ambientes de trabalho mais justos e transparentes.
Até a próxima aula!
Saiba Mais
Para saber mais sobre o término do contrato de trabalho, leia o Capítulo XV do Título II do livro:
LEITE, C. H. B. Curso de direito do trabalho. 15. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2023.
Referências Bibliográficas
BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 11. ed. São Paulo: LTr, 2017.
BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). Rio de Janeiro: Presidência da República, 1943. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 26 abr. 2024.
BRASIL. Lei nº 12.506, de 11 de outubro de 2011. Dispõe sobre o aviso prévio e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2011. Disponível em: https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=12506&ano=2011&ato=98fQTSU1UMVpWT57c. Acesso em: 17 jun. 2024.
BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1° de maio de 1943, e as Leis nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Brasília: Presidência da República, 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm. Acesso em: 26 abr. 2024.
CALVO, A. Manual de direito do trabalho. 7. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2023.
DELGADO, M. G. Curso de direito do trabalho. 20. ed. São Paulo: Juspodvim, 2023.
LEITE, C. H. B. Curso de direito do trabalho. 15. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2023. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553626966/epubcfi/6/2[%3Bvnd.vst.idref%3Dcover.xhtml]!/4/2[cover]/2%4050:77. Acesso em: 17 jun. 2024.
Encerramento da Unidade
Atividade Empresarial e Legislação Trabalhista
Videoaula de Encerramento
Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?
Bons estudos!
Ponto de Chegada
Olá, estudante!
Para desenvolver a competência desta unidade – conhecer a legislação trabalhista para identificar, interpretar e aplicar as normas jurídicas trabalhistas às diversas situações profissionais que envolvam a prestação de serviço de trabalhador para empresário ou sociedade empresarial –, você precisou estudar diversos conceitos e definições, além de adquirir conhecimentos mais apurados acerca da legislação trabalhista.
Nesse contexto, foi essencial estudar a definição de direito do trabalho, os princípios fundamentais que garantem proteção ao trabalhador, bem como entender que a relação de trabalho é o gênero do qual decorrem várias espécies, dentre as quais a relação de emprego – que precisa observar os requisitos de pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Além disso, precisou estudar a definição e os requisitos do contrato de trabalho, que, em regra, vigora por prazo indeterminado, sendo permitido o contrato por prazo determinado apenas em algumas hipóteses previstas em lei. Por fim, estudou a existência de causas que suspendem e outras que interrompem o contrato de trabalho.
Em um segundo momento, você tomou conhecimento das normas jurídicas que regulam a jornada de trabalho do empregado e estabelecem que a jornada constitucional é de, no máximo, 44 horas semanais, existindo outras para profissões específicas. Essa jornada pode ser prorrogada em até duas horas por dia, que devem ser pagas com adicional mínimo de 50% ou integrarem o banco de horas para compensação. Além disso, você compreendeu que o empregado tem direito ao descanso, concedido na forma de intervalos intra e interjornadas, descanso semanal remunerado e férias.
Na sequência, você conheceu as regras jurídicas relativas à remuneração do empregado, momento em que aprendeu a diferenciar verbas salarias das não salariais e conheceu as hipóteses em que é permitido o desconto no salário do empregado. Nesse sentido, você aprendeu também que remuneração é o gênero do qual o salário e as gorjetas são espécies. No conceito de salário, estão abrangidas as comissões.
Por fim, mas não menos importante, você conheceu as regras jurídicas relativas às espécies de extinção do contrato de trabalho, que podem ou não envolver uma justa causa. O aviso prévio é devido tanto pelo empregado quanto pelo empregador no pedido de demissão ou na dispensa sem justa causa, respectivamente. A CLT traz, no art. 182, as hipóteses de justa causa do empregado, ao passo que o art. 183 traz as hipóteses de justa causa do empregador.
Perceba, estudante, a jornada incrível que você vai ter ao mergulhar no mundo do direito do trabalho. Ótimos estudos!
Reflita
|
É Hora de Praticar!
Marcelo, um trabalhador contratado por um supermercado como técnico repositor, executa, na prática, a função de técnico em manutenção predial, realizando atividades que envolvem contato com energia elétrica. Ele percebe que a empresa não fornece os equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados, como luvas isolantes e óculos de proteção, para o desempenho de suas funções em ambientes com risco elétrico. Além disso, não recebe adicional de periculosidade, mesmo diante da natureza perigosa de suas atividades.
Diante dessas circunstâncias, Marcelo sente-se desprotegido e exposto a riscos significativos de acidentes elétricos devido à falta de EPIs adequados. Então, tenta resolver a questão internamente, solicitando à empresa os equipamentos necessários e reivindicando o adicional de periculosidade em virtude da natureza de suas atividades. No entanto, a empresa negligencia a solicitação e não toma medidas corretivas.
Marcelo, ao perceber que suas atividades envolvem riscos significativos, decide procurar orientação sobre seus direitos em relação ao adicional de periculosidade. Ele se questiona: quais são os critérios estabelecidos pela legislação trabalhista para a concessão do adicional de periculosidade?
Marcelo também está intrigado quanto a seu registro em carteira de trabalho, pois é contratado como “repositor”, mas desempenha as funções de um técnico em manutenção predial. Por isso, ele se pergunta: o registro de uma função na carteira de trabalho impede o reconhecimento de outra função exercida na realidade? Como comprovar isso?
Diante da recusa da empresa em fornecer os EPIs adequados e em conceder o adicional de periculosidade, Marcelo sente-se compelido a buscar uma solução mais drástica para proteger seus direitos e sua segurança no ambiente de trabalho. Antes de tomar essa decisão, ele se pergunta: quando posso considerar a rescisão indireta do contrato de trabalho? Quais são os critérios estabelecidos pela legislação para caracterizar falta grave do empregador?
Antes de tomar qualquer medida, Marcelo pondera sobre a proteção de sua integridade física e busca entender melhor como a legislação trabalhista garante essa proteção. Suas perguntas são: qual é o papel da legislação trabalhista na proteção da integridade física do trabalhador? Como as normas buscam garantir um ambiente de trabalho seguro?
Considerando a possibilidade de rescisão indireta, Marcelo antecipa-se e pergunta-se sobre as consequências jurídicas dessa decisão: quais são as consequências jurídicas da rescisão indireta do contrato de trabalho? Quais direitos o empregado pode pleitear nessa situação?
Reflita
Imagine que Marcelo procurou você para solucionar as dúvidas que ele apresentou. Como você o ajudaria?
Resolução do estudo de caso
Os critérios para a concessão do adicional de periculosidade estão definidos no art. 193 da CLT, que aborda atividades e operações perigosas que dão direito ao pagamento do adicional. O princípio da segurança e da saúde do trabalhador, estabelecido no art. 157 da CLT, impõe ao empregador o dever de fornecer condições seguras de trabalho. A ausência de EPIs adequados agravaria ainda mais a situação de Marcelo, justificando a concessão desse adicional como forma de compensação pelo risco a que ele está submetido.
O princípio da primazia da realidade indica que o registro formal na Carteira de Trabalho não é determinante absoluto da função exercida; o que prevalece é a realidade das atividades desempenhadas. Para comprovar essa discrepância, Marcelo pode reunir evidências, como registros de suas atividades diárias, testemunhos de colegas de trabalho, documentação referente a treinamentos específicos para a função de técnico em manutenção predial, ou qualquer outro elemento que evidencie a natureza efetiva de suas responsabilidades no ambiente de trabalho. O reconhecimento da função real, baseado na primazia da realidade, é crucial para garantir os direitos trabalhistas relacionados às atividades que de fato exerce.
Além disso, Marcelo pode comunicar a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é caracterizada quando o empregador comete falta grave, conforme estabelecido no art. 483 da CLT. A falta grave pode incluir a negligência em fornecer condições seguras de trabalho, como no caso da ausência de EPIs e do não pagamento do adicional de periculosidade. O não fornecimento de EPIs, apesar da solicitação, configura uma violação grave das condições de trabalho e um descumprimento das normas de segurança estabelecidas por lei.
A legislação trabalhista, em especial o art. 157 da CLT, estabelece que é responsabilidade do empregador proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável, garantindo a integridade física do trabalhador por meio de medidas de segurança e fornecimento de EPIs.
Marcelo, ao rescindir indiretamente o contrato, pode pleitear as verbas rescisórias devidas em casos de demissão sem justa causa, além de buscar indenizações por danos morais, caso tenha sofrido algum prejuízo emocional em decorrência da falta de segurança no ambiente de trabalho.
Esse caso hipotético destaca a importância de se observar as normas de segurança no ambiente de trabalho, bem como a necessidade de aplicar os princípios do direito do trabalho para proteger os direitos e a integridade dos trabalhadores, especialmente em atividades que envolvem riscos como o contato com energia elétrica.
Dê o play!
Assimile
Confira a seguir os principais tópicos tratados nesta unidade.
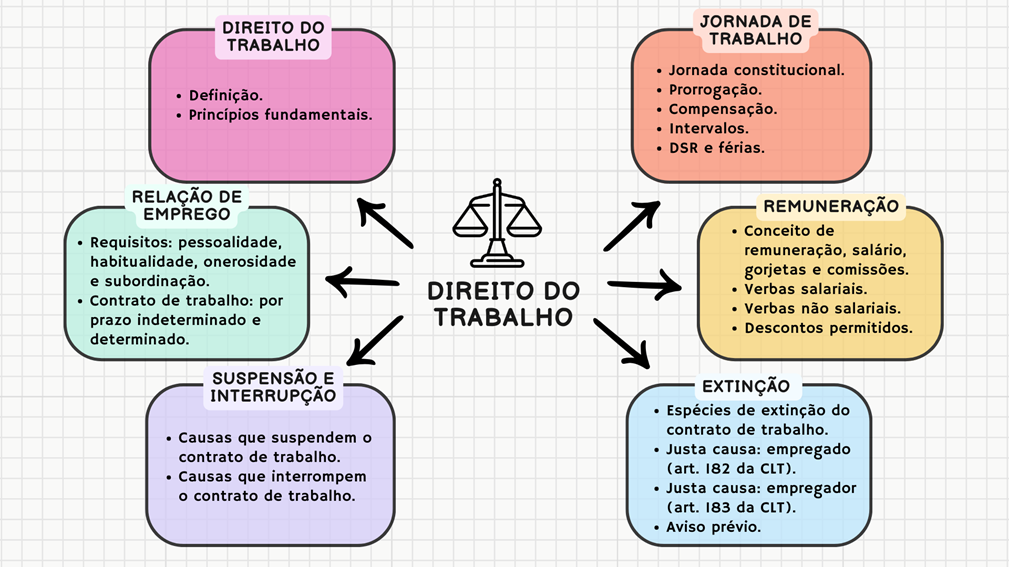
Referências
BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). Rio de Janeiro: Presidência da República, 1943. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 26 abr. 2024.
CALVO, A. Manual de direito do trabalho. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.
DELGADO, M. G. Curso de direito do trabalho. 20. ed. São Paulo: Juspodvim, 2023.
LEITE, C. H. B. Curso de direito do trabalho. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.
RESENDE, R. Direito do trabalho. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023.
RENZETTI, R. Manual de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 2021.